Foi notícia este mês a obtenção dos primeiros resultados do projeto de investigação “50 Anos de Democracia em Portugal: Aspirações e Práticas Democráticas – Continuidades e Mudanças Geracionais”, acolhido pelo CAPP/ISCSP e coordenado por Pedro Fonseca, Conceição Pequito Teixeira e Manuel Meirinho. O projeto desenvolveu um inquérito nacional para aferir a forma como os portugueses, sobretudo os jovens, avaliam a democracia e o seu envolvimento político e cívico. Entre as várias hipóteses, inclui-se a correlação entre o desinteresse pela política e o apoio a formas de governo de tipo autocrático.
Estes resultados do inquérito são interessantes por serem parcialmente contraditórios; se, por um lado, 87,6% dos inquiridos concordam que a democracia é sempre “preferível a qualquer outro tipo de regime político”, por outro, quando medidas as atitudes face a possíveis formas de governo para Portugal, 47,3% veriam com bons olhos o “governo de um líder forte” que não tivesse que se preocupar com o parlamento ou eleições, e 70% aprovariam um governo de “especialistas” (e não governantes eleitos).
Apenas tenho acesso aos dados públicos do inquérito, mas, à primeira vista, o que parece acontecer é que uma grande percentagem dos inquiridos de facto se apega à democracia (como ideal nebuloso) sem se aperceber (ou sem dar grande importância) às consequências antidemocráticas de tipos de governo que se calhar apoiariam no concreto. Tudo se passa, portanto, como se a adesão espontânea à democracia estivesse em permanente tensão com o charme discreto da tecnocracia e com a imponência do seu parente mais bruto, a autocracia. Nos 50 anos do 25 de Abril, eis uma boa oportunidade para voltarmos a discutir as virtudes da democracia.
Será a participação política um bem em si mesmo?
No cerne do debate entre a democracia e outros regimes políticos ou formas de governo está a questão sobre a natureza da decisão política. Será que ela se reduz a uma questão técnica, em última instância determinada por competências especializadas alegadamente neutras? Ou será que há algo de específico na política, nomeadamente o facto de estar sempre aberta a possibilidades alternativas (dentro do domínio do razoável) que faz com que, por inerência, ela deva ser o domínio da igualdade dos direitos políticos e da soberania popular (ainda que mediada por instituições representativas)?
Os leitores que prefiram a segunda alternativa serão convictamente democratas; quem preferir a primeira estará provavelmente mais próximo de uma tecnocracia ou de uma epistocracia (um alegado governo dos sábios).
No fundo, uma das questões que se pode colocar é a de saber se a participação política é, ou não, algo que devamos querer fomentar, por considerarmos que ela é um bem em si. Como democratas, tenderemos sempre a pensar que sim, já que a participação é um dos pilares da democracia. As democracias promovem a igualdade de oportunidades, a proteção das liberdades básicas, a deliberação e o consentimento informado à autoridade política, que supostamente tem de persuadir racionalmente e não simplesmente impor a decisão política.
E, em tese, a participação política, incluindo não só o exercício do direito de voto como também o exercício do direito à manifestação, o associativismo e o debate político baseado em informação fidedigna, seria um bem inerente da democracia.
A tentação tecnocrática e o risco da autocracia
Mas a contrapelo desta intuição aparece o tal charme (ou engodo, como prefere descrevê-lo Habermas) da tecnocracia. Se a deliberação tem algo de subjetivo na ponderação de alternativas, a visão tecnocrática pretende apresentar alegada objetividade e eficiência.
É o que ouvimos sempre que nos dizem que, a propósito desta ou de outra decisão política, “não há alternativa”. E é aquilo que surge sempre que decisões que de facto não eram inevitáveis surgem sob a capa da competência técnica. Durante a crise das dívidas soberanas na UE, era o discurso de quem se escudava nas imposições da troika.
Muitas vezes, os mecanismos democráticos, com os seus sistemas de pesos e contrapesos, são lentos e parecem ineficientes, nem sempre conduzindo àquilo que parecem ser os melhores resultados possíveis.
Na linha das críticas instrumentais à democracia (aquelas que avaliam os regimes políticos pelos resultados que apresentam), como as de Jason Brennan e a sua hipótese de se testarem formas de epistocracia, por vezes pergunta-se: se o resultado de eleições democráticas são opções políticas nocivas (como a ascensão dos partidos populistas) e se estes resultados se correlacionam com ignorância e manipulação de opinião, por que não distribuir o poder político em função do conhecimento e da competência?
Aqui as hipóteses variam, indo desde um sistema de sufrágio restrito (onde os potenciais votantes teriam de passar um exame de qualificação) até um “conselho epistocrático” com poder de veto sobre decisões políticas.
É claro que estas hipóteses não deixam de ferir a nossa sensibilidade democrática. Se pensarmos na administração pública, ou no apoio ao desenho de políticas públicas, faz todo o sentido ancorar decisões em critérios técnicos. Mas passar daí para a restrição de direitos democráticos é um passo que, dir-se-ia, a maior parte de nós considera inaceitável. Até porque uma conceção de democracia baseada em direitos inalienáveis visará sempre melhorar a qualificação das pessoas para aumentar a qualidade da democracia; se o problema é a falta de conhecimento, há que diminuir desigualdades no acesso a educação de qualidade.
No limite, a tendência tecnocrática convive bem com um certo elitismo e paternalismo (saber o que é o melhor para o povo). E não se podendo confundi-la com a ameaça da autocracia, na verdade existe em ambas alguma alergia pela conceção democrática da política.
A vitalidade democrática no país de Abril
Perante isto, e se a ascensão do populismo de direita nos poderia fazer temer retrocessos de direitos e ameaças à democracia em Portugal, e se algum pessimismo poderia fazer antever um clima “pós-democrático” no sentido de Colin Crouch, em que se sente um esvaziamento da mobilização democrática, as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril pareceram desmentir esse cenário.
Os enormes desfiles em Lisboa, Porto e Coimbra e a mobilização popular nestes e noutros pontos de país mostraram muitas centenas de milhar de pessoas a celebrar de forma ativa o legado de Abril, um legado de liberdade e democracia, e cujo simbolismo se estende bem para lá das nossas fronteiras, tendo tido um papel importante de inspiração no Brasil ou em Espanha. A democracia é sempre frágil, e tem de ser cultivada para não definhar, o que inclui a participação popular.
Estes “momentos democráticos”, como lhes chama Crouch, não resolvem os outros riscos e desafios das democracias. Mas marcam posição. Neste caso, em defesa da democracia no nosso país, sejam lá quais forem os caminhos que ela venha a trilhar no futuro.



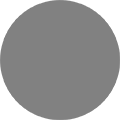 category-label-
category-label- 







