A política criminal, para realização da Justiça, não é – numa Democracia e num Estado de Direito – subsidiária da política de segurança.
1. Que têm Françoise Hardy e a notícia do seu recente falecimento a ver, objetivamente, com a persistente preocupação de alguns portugueses com a reforma estrutural do sistema processual penal?
Nada. Não têm, factualmente, nada a ver com ela.
E, contudo, a notícia da sua morte fez-me regressar muitos anos atrás, quando tinha apenas doze anos.
Ouvi, então, por acaso, uma conversa algo sussurrada sobre um episódio peculiar.
A conversa decorria entre os meus pais – o meu pai era o juiz corregedor do círculo do Algarve – o então chamado “juiz ajudante”, que mais não era do que o Ajudante do Procurador da República e o juiz da comarca e suas respetivas mulheres.
Dias antes, havia sido inaugurado o Hotel Algarve na Praia da Rocha e, no espetáculo com que os convidados foram presenteados, contava-se uma atuação da, então muito em voga, cantora pop francesa, Françoise Hardy.
Do que eu me pude aperceber, teria havido um incidente com a sua atuação.
Quando ela se apercebeu que iria cantar para o então Presidente da República, Américo Tomás, e outros dignitários do regime, e não apenas perante os empreendedores e empresários turísticos da região algarvia, terá tentado recusar fazê-lo, pois repugnava-lhe cantar perante as mais altas autoridades de um regime ditatorial.
Ao fim de algum tempo – contrato e cachet obligeaient – lá se sujeitou e cantou, a despachar, um par de canções.
De acordo, porém, com a conversação que escutei, já não lhe foi possível gozar de alguns dias no Hotel, como estava previsto, e terá sido recambiada de táxi para o aeroporto para tomar o avião de volta a Paris.
Foi, pois, assim, que, ainda pré-adolescente, me inteirei, pela primeira vez, que tudo – incluindo as canções pop, intimistas e não militantes de Françoise Hardy – tem, ou pode ter, uma dimensão política.
2. Vem este episódio a propósito das possíveis e graves implicações políticas da chamada – e por alguns, muito reclamada – reforma estrutural da Justiça penal, designadamente no que respeita ao modelo de autonomia e organização do Ministério Público (MP), sem que se defina e esclareça, previamente, o sentido exato de tal mudança.
A consagração legal e depois constitucional da autonomia do MP, que não tendo sido pacífica, foi inicialmente acarinhada apenas pelos setores mais liberais dos dois partidos centristas – PS e PSD – e acolhida com menos entusiasmo pelo setor mais jacobino dos socialistas e mais conservador dos social-democratas.
À esquerda e de início, apenas o MDP avançou, com projeto próprio, no sentido da consagração da autonomia do MP, vindo o PCP, mais tarde, a alinhar e a sustentar com empenho a sua defesa.
Durante anos e até à emergência do primeiro caso com incidências políticas fortes na área do poder – o chamado caso do sangue contaminado – nada perturbara o posterior consenso alcançado na revisão constitucional que deu forma, na lei fundamental, a um princípio já antes consagrado na Lei Orgânica do MP (LOMP): a autonomia do MP.
O grande argumento para tal consagração constitucional relacionou-se com a aprovação do novo Código de Processo Penal (CPP), que atribuía a direção da investigação criminal ao MP e não mais ao juiz de Instrução (JIC).
Era necessário – todos compreenderam, então – preservar a investigação criminal da possível intromissão do poder político, tal como acontecia no anterior regime, precisamente através da iniciativa de um MP subordinado ao governo.
Garantia-se, todavia, nesta revisão constitucional que, numa estrutura hierarquizada como era o MP, a cabeça da mesma – O Procurador-geral da República (PGR) – continuava a ser nomeada pelo Presidente da República (PR) sob proposta do Governo, só podendo ser exonerada se houvesse, também, um consenso entre o PR e do Primeiro-Ministro nesse sentido.
Para cumprir o novo dispositivo constitucional, o Conselho Superior do MP (CSMP), além de continuar a integrar duas personalidades nomeadas pelo Governo e de aceitar incluir, por inerência, os então quatro Procuradores-gerais Distritais (PGD) nomeados pelo próprio CSMP por proposta do PGR, passou a incorporar de novo, cinco individualidades indicadas pela Assembleia da República, mantendo ainda, sete magistrados eleitos pelos colégios eleitorais dos diferentes escalões hierárquicos da carreira do MP.
Mesmo que não referida na nova Constituição, a continuação da presença em tal órgão dos PGD era justificada com a natureza hierarquizada desta magistratura.
A aceitação e realce no novo texto constitucional de um corpo de magistrados eleitos pelos pares na composição do CSMP privilegiava, de alguma maneira, a expressão do pluralismo interno no MP.
Sendo feita de acordo com o método de Hondt, permitia uma composição deste grupo de membros baseada, especialmente, nas diferentes sensibilidades cívicas existentes entre magistrados.
Tínhamos, assim, um órgão plural na sua origem e pluralista na sua composição, que se encarregava, antes do mais, da gestão das carreiras e da disciplina dos magistrados.
A direção operacional do MP, essa, competia ao PGR acompanhado pelos seus quatro PGD.
Cumpria-se, pois, o princípio de que quem dirige não avalia e quem avalia e vela pela disciplina do órgão não dirige; nisto se qualificava o MP como magistratura, diferenciando -o, também por via do seu governo próprio, da Administração Pública.
Os procuradores de círculo, ao contrário da lógica que presidia à escolha dos PGD, eram, na sua maioria, selecionados pelo CSMP por concurso entre magistrados com nota de Muito Bom ou Bom com Distinção.
Não por acaso, estes eram os superiores hierárquicos imediatos dos magistrados de base e, nessa qualidade, os únicos que, fora situações excecionais devidamente identificadas, podiam intervir diretamente, nos termos da LOMP e do CPP, nos inquéritos que aqueles tutelavam.
Podiam, ainda, avocar tais processos – em rigor, deviam – quando entendessem que a sua complexidade ou repercussão social o exigiam.
O PGR, contudo, não respondia – não responde ainda – perante o CSMP e, como dissemos, o seu mandato dependia, apenas, da convergência de opinião do PM e do PR.
O Ministro da Justiça não poderia mais dar instruções ao MP, mas podia impor a sua presença nas reuniões do CSMP e, nas suas sessões, fazer as comunicações que entendesse sobre a atuação do MP e o funcionamento da Justiça: este poder mantêm-se.
3. Tudo parecia correr bem e calmamente no “reino da Dinamarca” até ao início do caso judicial já referido.
A guerra que tal processo desencadeou no seio do poder político repercutiu-se, também, mesmo que indiretamente, nas relações institucionais daquele com o MP.
De seguida, outros casos de gravidade idêntica foram-se sucedendo – como é normal em democracias liberais – e o bom ambiente existente entre os sucessivos PGR e Governos foi-se toldando intermitentemente.
Fui testemunha privilegiada de alguns de tais desaguisados e mal-entendidos.
Foi-me dado, inclusive, conhecimento de manobras tendentes à deposição de, pelo menos dois, PGR.
Tendo-me sido pedida, discretamente, a minha opinião, em ambos os casos manifestei a minha oposição radical a tal medida.
Isto, mesmo quando a questão se pôs em relação a um desses PGR, que, sempre que podia, fazia gala de, mesmo em público, me ofender e provocar pessoalmente, à espera, talvez, de uma intervenção destemperada da minha parte.
Acreditava eu, e ainda hoje assim penso, que no dia em que tal exoneração viesse a acontecer – sem que qualquer PGR tivesse cometido um crime doloso ou uma falta imensamente grave contra a Democracia –a autonomia do MP estaria irremediavelmente comprometida.
Fazendo das tripas coração, sustentei (mesmo neste último caso), a minha oposição de princípio à sua substituição.
Demitido um PGR, outros se lhe seguiriam e, com isso, o MP passaria ser olhado de novo como o braço armado do poder político nos tribunais.
4. O que acabei de descrever e contar de modo muito sintético poderá ser, acredito, importante para explicar o que penso sobre a novamente chamada “reforma estrutural da Justiça penal”, mas, sobretudo, sobre o que penso, também, da muito mais pretendida reforma do modelo de autonomia do MP.
Sobre ambas as pretendidas reformas e sobre os pontos que, em concreto, julgo merecerem uma revisão, escrevi já alguns textos neste jornal, identificando problemas e propondo soluções concretas.
É-me, contudo, difícil – mas pode ser deficiência minha – encontrar alguma clareza ou novidades nas opiniões publicamente manifestadas por um grupo de personalidades sobre a matéria.
Não se vê nelas, infelizmente, alguma ideia precisa e coerente tendente a modificar radicalmente e com vantagem os pressupostos e equilíbrios já alcançados.
Nem mesmo quanto ao MP – alvo privilegiado das maiores inquietações com a situação atual da Justiça – se consegue realmente perceber onde, na verdade, se pretende chegar.
O que sobressai parece-se mais com uma irritação cutânea causada por motivos distintos – e nem todos sinceramente relevantes – do que uma reflexão sólida sobre o sistema de Justiça penal e as estruturas que nele coabitam, as suas falhas e incongruências e as consequentes (e exigíveis) propostas para o mudar em profundidade, mesmo que dentro das balizas definidas pela Constituição e o Direito penal europeu.
Creio, por isso, que, mais importante do que sonhar revolucionar todo o complicado – mas, apesar de tudo, equilibrado e sofisticado jogo de pesos e contrapesos do sistema de Justiça penal – é imprescindível procurar afinar os seus atuais instrumentos de ação.
Devem, desde logo, corrigir, se necessário – e eu creio que o é –, algumas inovações que demonstraram não ter respondido eficazmente ao que o legislador recente delas esperava.
Reconheçamos que algumas das mais contestadas de tais inovações converteram-se, de facto, em nós górdios que estrangulam o correto funcionamento do MP.
Tais nós devem, como tenho vindo a referir, procurar-se nos recentemente alterados instrumentos estatutários de controlo interno – e também judicial – introduzidos uns por via legislativa, e outros por via jurisprudencial.
A prática demonstrou, sobejamente, que algumas das medidas de relaxamento hierárquico, entretanto ensaiadas, não funcionaram como se esperava que acontecesse.
Por outro lado, é, nas decisões e propostas de diligências processuais mais sensíveis, designadamente as que incidam e contendam com direitos liberdades e garantias, que importa fazer incidir a atenção do legislador atual.
É aí, e não nos delicados equilíbrios constitucionais do sistema de Justiça penal existentes, que importa mexer com rigor, em busca de uma congruência perdida.
Nesse sentido, apontei, em textos anteriores, algumas ideias que, mais trabalhadas, poderão auxiliar a afinar o motor e a dinâmica de uma máquina tão delicada como é a do MP e o seu papel na Justiça penal.
Uma magistratura que, no fundamental, rege a sua intervenção na jurisdição penal a partir de dois diplomas fundamentais – o Estatuto do MP e o Código de Processo Penal (CPP) – leis que, por força das recentes alterações ao primeiro deles, deixaram de convergir coerentemente.
Por outro lado, é – como sempre foi – difícil perspetivar e projetar exteriormente a intervenção de uma magistratura independente no exercício da iniciativa penal, quando esta depende, afinal, da intervenção operacional de órgãos que o não são e que agem, preferencialmente, de acordo com as orientações da sua hierarquia e o que esta entende ser a sua autonomia tática e técnica.
Órgãos que têm, além disso, relevantes funções executivas na área da segurança, que não coincidem, nem jogam sempre bem, com a objetividade e rigor formal exigíveis à iniciativa e intervenção das autoridades judiciais e judiciárias como, reconhecidamente, é o MP.
Independência que, por fim, e muitos anos depois do legislador português ter reconhecido a sua indispensabilidade, os dois tribunais europeus, com destaque para o Tribunal do Luxemburgo (UE), preconizam dever ser, agora, uma caraterística essencial do MP na Europa para, precisamente, poder ser encarado como autoridade judicial/judiciária.
5. A política criminal, para realização da Justiça em que o MP deve participar, não é – numa Democracia e num Estado de Direito – subsidiária da política de segurança.
Por isso, aliás, o Governo tem dois ministérios e dois ministros distintos para assegurar tais funções constitucionais.
Tais políticas – justiça e segurança – exercem-se em momentos temporalmente diferentes e tendo em vista bens e valores que, percorrendo por vezes os mesmos caminhos, não se sobrepõem necessariamente.
A função primordial do MP não é, pois – como alguns pensam e dizem -, a de lutar contra um ou outro tipo de crime, mas o de permitir que, com objetividade e de acordo com as prioridades sociais interpretadas nas leis de política criminal, nos tribunais se faça Justiça quando tais crimes são cometidos.
A cultura do MP é, deve ser por isso, sobretudo, judicial e não policial.
A Justiça faz-se nos tribunais – em julgamento – e não tanto nos inquéritos recebidos das polícias e em função dos relatórios concludentes que estas deles fazem, não apenas para uso do MP, mas também, como lhes é devido, na perspetiva das suas outras múltiplas competências.
Foi esta revolução introduzida pelo atual CPP – a ideia de que toda a prova deve poder ser reproduzida em julgamento – que algumas lideranças do MP tardaram a perceber e aceitar.
Por isso, especializaram, exclusivamente, a atividade dos procuradores por fases processuais – sobretudo na fase de inquérito – e não, como era exigível, por áreas temáticas, criando equipas consistentes de magistrados que, pelo menos na criminalidade grave (crimes europeus), pudessem acompanhar todo o processo, da denúncia ao julgamento e aos recursos.
A atuação do MP não deve, com efeito, depender ou ser considerada como uma mera continuação ou extensão da ação de investigação policial, como alguns procuradores parecem agora aceitar, com as insuficiências e consequências no inteiro desempenho processual desta magistratura que daí podem decorrer e, em alguns casos, decorrem mesmo.
A hierarquia do MP – a única que pode orientar a sua iniciativa e ação processual – é interna e, sob pena de se atentar contra a sua autonomia externa, não pode ser substituída pelas opções traçadas fora dela, pelos que, com esta magistratura, devem, sobretudo, cooperar.
Isso aconteceu anteriormente – no antigo regime – e com os piores resultados para os direitos humanos.
6. Por tudo isto, o pior que poderia acontecer agora à nossa já tão fragilizada e ameaçada vida cívica e democrática era, pois, que, à margem do afinamento destes equilíbrios difíceis, surgisse uma reforma que cheirasse a revanche de um compacto bloco de poder político e económico contra toda uma magistratura, cujos membros, no geral, trabalham muito, serena e honestamente.
Uma magistratura que – reconheçamos – é infelizmente identificada, hoje-em-dia, nos media, não pela diligente ação diária de muitos e muitos procuradores, mas, sobretudo, pelas iniciativas de uns poucos e mais ousados dos seus membros.
Refiro-me aos que entendem o MP apenas como suporte nominativo às ações que desenvolvem por si mesmos – com ou sem apoios institucionais externos – e que se julgam responsáveis apenas perante si próprios.
Se a ideia de uma tal reforma radical – entendida de imediato pela vox populi como um ajuste de contas da “casta” – ganhasse asas, isso permitiria, por certo também, outros, novos e mais incisivos voos, aos que, ultimamente, parecem ter -se espalhado, por desleixado erro de cálculo na aterragem.
Entender como a doce e intimista cançonetista “Yé-yé” pôde desencadear, em circunstâncias jamais expectáveis, uma dinâmica política inopinada, foi uma lição que aprendi cedo com a atitude não programada e, assim, aparentemente pouco mais do que caprichosa, de Françoise Hardy na inauguração opulenta do Hotel da Algarve da Praia da Rocha, em 1967.
Pena é, para todos, que já não possamos continuar a ouvi-la cantar e, ainda uma vez, contar de viva voz, num qualquer podcast, o episódio que, sussurrado, escutei, noutros tempos, aos meus pais e seus amigos.

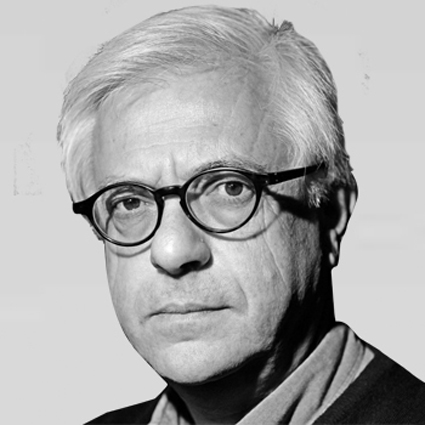

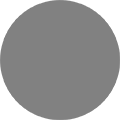 category-label-
category-label- 







