Aos 39 anos, este escritor suíço que no início chegou a ameaçar construir uma reputação literária enquanto autor de thrillers de investigação criminal, a par de vultos como Donna Tartt ou Gillian Flynn, acabou por demonstrar apenas uma certa desenvoltura para iludir os leitores com o pó que se acumula nos livros, enquanto se esforça…
Genebra é, segundo um dos seus residentes e um dos mais populares escritores da atualidade, «uma cidade que tem um nome maior do que ela é na realidade». Com cerca de 185 mil habitantes, consegue ser a maior cidade francófona da Suíça, no extremo oeste do país, junto à fronteira com a França e nas margens do maior lago natural da Europa, o Lemain. Ali nasceram o filósofo do século XVIII Jean-Jacques Rousseau e a World Wide Web, mas a cidade deve sobretudo a sua reputação ao facto de ser o berço da indústria relojoeira suíça. A horologia diz-nos alguma coisa sobre a frieza que muitas vezes se torna útil na hora de representar a anarquia aterradora da crónica humana. Joël Dicker escreve em francês e vive e trabalha naquela cidade, e os enredos de suspense que fizeram dele um sucesso de vendas em todo o mundo giram em torno da vida privilegiada de um escritor norte-americano chamado Marcus Goldman, que, tal como Dicker, tem de escrever uma continuação do bestseller que lhe deu fama e fortuna. Aos 39 anos, e depois de uma década em que gozou do estatuto de celebridade graças a esses thrillers que são eventos à escala industrial na vida dos livros, os seus volumosos romances continuam a chegar às livrarias com uma regularidade que faz jus à fama do relógio de cuco suíço. Ao todo, tem sete livros publicados, tendo começado por obter o favor dos leitores no mundo insular da edição de livros europeus, acabando por cativar um público bem mais vasto ao atrair aqueles leitores que, cansados do noir nórdico, pareciam ansiosos por ler um thriller de setecentas páginas cuja ação não decorresse nalguma cidade subártica nem tivesse sido congeminada por outro autor escandinavo.
Nume entrevista concedida a Isabel Lucas, o tipo de jornalista de cultura que viaja a convite das editoras e torna assim desnecessário aos autores estenderem excessivamente as suas tournées publicitárias para abarcar os países periféricos, Joël Dicker conta como começou a escrever em revistas quando era muito novo, e que a vontade de ser escritor lhe veio de ter crescido no meio dos livros, uma vez que a mãe trabalhava numa livraria. Contudo, não deixou de fazer uma espécie de seguro profissional, formando-se em Direito, pois queria ter um diploma «em alguma coisa que não me fechasse demasiado» se o plano de ser escritor falhasse. Trabalhou por um período como jornalista, enquanto escrevia e via essas primeiras tentativas recusadas pelos editores. Conseguiu por fim ver um livro com o seu nome na capa chegar aos escaparates em 2012, Os Últimos Dias dos Nossos Pais, uma ficção que se debruça sobre factos históricos para alimentar uma tese sobre o verdadeiro papel que os ingleses terão tido na vitória dos aliados na II Guerra Mundial. Depois de ter luz verde, passaram apenas seis meses para que viesse a lume o bestseller que lhe mudou a vida.
fenómeno literário internacional
«Toda a gente falava do livro». É a primeira frase do prólogo de A verdade sobre o caso Harry Quebert e revelou ser uma espécie de profecia que se cumpre a si própria, de tal forma o segundo romance de Dicker se tornou um fenómeno internacional. O primeiro momento em que o livro começou a captar a atenção dos editores foi em outubro de 2012, na Feira do Livro de Frankfurt, quando a sua pequena editora francesa vendeu inesperadamente os direitos para 35 países. O livro acabou por ser traduzido para 37 idiomas e conquistou o Grand Prix du Roman de l’Académie 2012, sendo ainda selecionado para o Prix Goncourt no mesmo ano. Estes dois prémios literários, entre os mais prestigiados em França, são normalmente atribuídos a romances com aspirações literárias e não propriamente a romances policiais. O livro viria a vender alguns milhões de exemplares no estrangeiro e chegou a ultrapassar o Inferno de Dan Brown nas listas de best-sellers europeus. Três anos mais tarde, O Livro dos Baltimore confirmou a adição do público às desventuras de Marcus Goldman, o protagonista que regressaria já em 2022, com O Caso Alaska Sanders.
Jovem, rico e famoso, tal como Dicker, quando o romance tem início ele assume o fracasso na sua tentativa de escrever um segundo livro. Com o prazo de entrega a chegar ao fim, ele acha-se incapaz de compor uma única frase decente, e o editor começa a ameaçá-lo com um processo judicial. Por isso, foge de Nova Iorque e vai para uma estância balnear em New Hampshire, onde o seu professor de escrita, o célebre romancista Harry Quebert, vive numa reclusão à Salinger. Goldman acusa os efeitos devastadores de ver o seu nome cair na boca do mundo, e o lado perverso da fama, além de ter de lidar com os despojos da fama literária após uma estreia momentosa, que gerou entusiasmos exacerbados, fê-lo habituar-se a vícios de primeira qualidade, à companhia de atrizes. Pouco depois de chegar à pequena cidade de província, o corpo de Nola, uma rapariga de 15 anos que desaparecera 33 anos antes, é encontrado enterrado, juntamente com um manuscrito do livro canonizado de Quebert, no quintal deste. Não demora a saber-se que Quebert e Nola tinham um caso amoroso secreto e, apesar de todos suspeitarem de crime, Marcus empenha-se em resolver o caso e limpar o nome do seu mentor. É tudo bastante esquemático, com a pequena localidade a servir como um espaço confinado no qual o enredo vai articulando os efeitos necessários para manter o suspenso, com todas as personagens a tornarem-se suspeitas, pelo menos, durante algumas páginas. Só é possível alimentar o mistério ao longo de tantos capítulos porque o enredo está minado de pistas falsas e dos estereótipos que abundam neste género de ficções – desde o vizinho bisbilhoteiro, ao milionário isolado, ao aleijado que toda a gente evita e que está só à espera de revelar o seu passado trágico. Enquanto Marcus tenta desvendar o caso, é-lhe oferecido um adiantamento milionário por um relato em tempo real da sua investigação.
A crítica não deixou de reconhecer como Dicker se serviu de uma fórmula um tanto cínica de modo a conquistar o mundo literário, construindo uma dessas ficções de leitura compulsiva que simula um certo grau de sofisticação por aparentemente envolver escritores e exibir um certo ar de erudição, entre metanarrativas e as referências que não escapam a nenhum leitor inveterado. Os diálogos são de uma pobreza confrangedora, a escrita é escorreita apenas no sentido em que vai entretecendo uma série de platitudes não oferecendo qualquer tipo de dificuldade, e dá a sensação de se estar a assistir a outra dessas milhentas séries que nos distraem da insipidez das nossas vidas com mistérios à volta de um ou vários homicídios, como se a violência exercida sobre os outros nos desse a vontade de nos agarrarmos à nossa própria vida.
Como notou Alice Gregory numa recensão nas páginas da The New Yorker, «o facto de haver um romance dentro de um romance sobre o autor de outro romance não é tratado com qualquer tipo de panache pós-moderno, nem as alusões literárias a Roth e Mailer – uma mãe judia obcecada por comida, combates de boxe – que se limitam a indiciar uma escrita que anda sempre de volta de algum cliché». «Falta-lhe a precisão psicológica de Em Parte Incerta, de Gillian Flynn, e a perícia ao nível das frases dos romances de Donna Tartt (ambos me vêm à mente como obras igualmente ambiciosas e com um enredo denso). É difícil dizer se o romance é tão sensaborão no original francês, mas foi o que me disseram».
Depois vem o momento propriamente assassino desta crítica, quando Gregory diz que recomendaria o livro a um amigo ou colega de trabalho que estivesse de luto ou se visse obrigado a cumprir o dever de jurado – «alguém com as faculdades críticas temporariamente incapacitadas a tentar esquecer quem é ou onde está».
Depois do entusiasmo inicial, hoje a crítica abandonou inteiramente o interesse por mais este fenómeno de vendas, sendo cada novo título recebido com a frieza ou o desdém que se reserva a uma dessas fitas de Hollywood que ajudam a passar o tempo numa viagem de avião, com uma receita que se serve dos mesmos ingredientes da maioria desses calhamaços que fazem do virar as páginas uma espécie de tique nervoso: são obras consoladoras onde o público se reencontra com esses grandes clichés, as reviravoltas do costume e os chamados ‘cliffhangers’ no final de quase todos os capítulos. É uma forma de garridismo tedioso, de oferecer a quotidianos insípidos um efeito de dissimulação, de tal modo que mesmo nas aventuras que consumimos conseguimos, na verdade, ser igualmente aborrecidos, não nos sujeitando a qualquer verdadeiro sobressalto. No fundo, é o modelo perfeito de ficção hipócrita. Uma forma de se mentir a si próprio, julgando que assim se lida com os aspetos tenebrosos da realidade, quando o que se está a fazer é apenas apodrecer dentro desses lugares comuns que não somos capazes de abandonar.



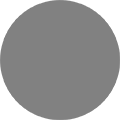 category-label-
category-label- 







