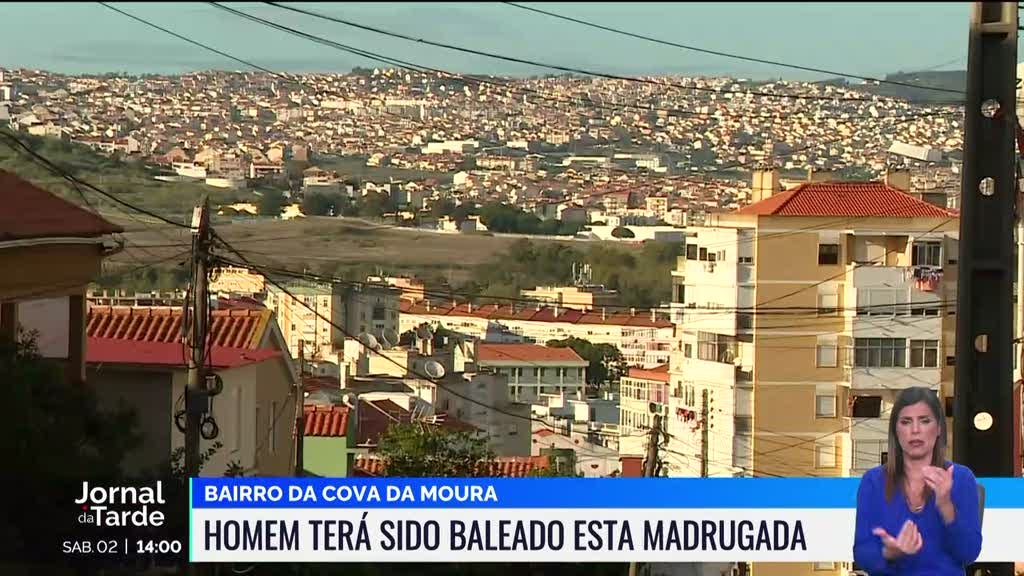As polémicas declarações de Donald Trump a respeito do futuro da NATO, dando a entender que se fosse novamente presidente deixaria os aliados europeus à mercê da Rússia, têm certamente o seu quê de bluff, na medida em que faz parte do estilo de Trump encarar a diplomacia internacional como se fosse mais um capítulo do seu “Art of the Deal”, o livro que em 1987 encomendou a um escritor fantasma e que, segundo nos diz com a seriedade que lhe é possível, constitui a sua leitura preferida, logo a seguir à Bíblia.
Porém, é inegável que se Trump voltar à presidência este assunto deverá voltar à ordem do dia, porque as suas tiradas vão ao encontro do que pensa uma boa parte do seu eleitorado. Com as devidas diferenças, Trump é uma espécie de Lindbergh moderno que tem o apoio de uma corrente isolacionista que está no ADN dos Estados Unidos desde sempre e que até ao ataque a Pearl Harbour era mesmo maioritária. O regresso em força deste isolacionismo com Trump fragiliza a NATO, porque coloca em dúvida a capacidade de dissuasão da aliança.
Para os países europeus, esta situação é particularmente perigosa. À primeira vista, se olharmos para os indicadores que revelam o potencial militar – população, PIB, base industrial e tecnologia –, a União Europeia (UE) e o Reino Unido são muito mais poderosos do que a Rússia. Numa guerra convencional, provavelmente venceriam (sendo certo que num confronto nuclear não haveria vencedores). A retirada americana da Europa enfraqueceria, obviamente, a defesa do continente, mas os países europeus têm os meios humanos, financeiros e tecnológicos para se defenderem, ainda que para tal tenham de fazer escolhas difíceis entre armas e “manteiga”.
Há, no entanto, um grande “se”, que é saber se o vazio estratégico provocado pela saída dos EUA não levaria ao fim da NATO e a uma crescente desunião no seio da própria UE. Os riscos são muitos.
Em primeiro lugar, sem os EUA, alguns países optariam pela via da neutralidade, para evitar problemas. Em segundo, as velhas rivalidades e os nacionalismos depressa viriam ao de cima. Por exemplo, a Polónia e outros países aceitariam a substituição do protetor americano por uma nova Alemanha, alimentada a “esteroides” e armada até aos dentes, que, à semelhança do passado, poderia chegar a um entendimento com a Rússia à custa dos vizinhos?
Mais: a Alemanha e a França continuariam a ser parceiras ou disputariam zonas de influência? Os britânicos fariam frente comum com os franceses, numa entente cordiale, para contrariar a supremacia da Alemanha? A Grécia e a Turquia passariam a vias de facto? A democracia e a paz sobreviveriam no Leste e nos Balcãs? Surgiriam novos blocos de alianças, com a Rússia a posicionar-se? Estas são apenas algumas das questões que poderíamos colocar.
Por vezes esquecemo-nos que foi por causa dessas rivalidades – e dos seus trágicos resultados – que há 80 anos os EUA se tornaram a potência dominante no nosso continente. Sem o poder americano, não haveria sequer projeto europeu. Como disse Lord Ismay, a NATO foi criada para “manter os russos fora, os americanos dentro e os alemães em baixo”. Porém, é inegável que, com ou sem Trump, os EUA não vão poder continuar a ser os polícias do mundo para sempre. É chegada a altura de, com visão e sem preconceitos, criar uma arquitetura de segurança que previna os riscos acima referidos, com a reforma da NATO e o aprofundar do papel da UE.



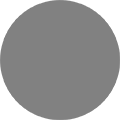 category-label-
category-label-