Entrevista a Ana Santos Pinto
04 jun, 2024 - 22:24 • José Pedro Frazão José Pedro Frazão
A antiga secretária de Estado da Defesa Ana Santos Pinto acredita que o aumento das despesas militares na Europa vai ter origem em dinheiro comunitário, admitindo que a criação de um mercado único também para os produtos militares pode estar na base da proposta de Von der Leyen para a criação de um comissário europeu da Defesa. Em entrevista à Renascença sobre os principais desafios da Segurança e Defesa, a diretora do Instituto Português de Relações Internacionais mostra-se ainda preocupada com algumas dimensões do Pacto Europeu para as Migrações e Asilo e critica a abordagem europeia aos países africanos.
Ana Santos Pinto acaba de coordenar um grupo de peritos a quem a NATO pediu um relatório sobre as relações da Aliança Atlântica com as regiões do Mediterrâneo, Norte de África e Sahel. Em entrevista à Renascença sobre os principais desafios da Segurança e Defesa na Europa, a professora universitária diz que o objetivo de gastos de 2% do PIB em Defesa é “cego” e revela que a relação entre a União Europeia e a NATO é mais difícil do que se pensa. A diretora do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) aborda ainda a relação entre a Europa e a Ucrânia e os desafios do recrutamento de jovens para as fileiras militares.
Comecemos por falar sobre os desafios do próximo ciclo político na Europa, no plano da relação com a Ucrânia e da necessidade de defesa do flanco leste europeu. Foram recentemente assinados acordos bilaterais de segurança com Kiev. Estamos perante uma medida de antecipação em relação a novembro e às eleições norte-americanas?
Creio que é mais do que isso. Há vários Estados-membros da União Europeia com uma forte convicção de que o braço militar da Rússia pode chegar aos seus territórios e às suas cidades. Não será certamente até ao final de 2024, mas há Estados que têm essa convicção profunda a um médio prazo de quatro a cinco anos. Isso reflete-se, aliás, na opinião pública e o último Eurobarómetro é muito claro, colocando a Segurança e a Defesa, pela primeira vez na história do processo de integração, como a prioridade para os cidadãos.
São Estados muito significativos, do ponto de vista da população, que têm essa convicção, o que tem dois resultados. O primeiro é não deixar as suas reservas do ponto de vista da Defesa irem ao limite, porque podem ter de responder no imediato. Em segundo lugar, trata-se de criar um conjunto de capacidades que, caso a NATO não seja capaz de decidir politicamente por unanimidade, isso seja possível na esfera da União Europeia ou dos Estados europeus sem ser no vínculo político da União Europeia.
A relação da União Europeia com a Ucrânia é, por um lado, de garantia e certeza de que a componente financeira e humanitária está a cargo da União Europeia. Isto constitui um plano de reconstrução que se vai alargar pelo menos pelos próximos 20 anos e temos de ter a consciência de que é necessário criar instrumentos para isto. Por outro lado, do ponto de vista militar, há uma divisão entre a componente interna dos Estados europeus e a necessidade potencial de substituir - ou pelo menos completar de uma forma mais significativa - a transferência de equipamentos militares pelos Estados Unidos, que pode estar em causa com eventuais alterações na administração norte-americana.
Os países que estão nessa circunstância, nomeadamente os limítrofes em relação à Ucrânia e à Rússia, olham sobretudo para a NATO e pela força da Aliança e da sua natureza defensiva. Isso não acaba por desvalorizar o lado europeu, do ponto de vista da Defesa?
Não se trata de desvalorizar porque, sendo pragmático, a União Europeia não dispõe de estruturas de comando e controlo para uma resposta rápida numa missão militar. Uma coisa são missões de gestão de crise, civis e militares. A construção de uma estrutura de comando e controlo, que permite a execução de uma operação militar, não está nem de perto nem de longe consolidada, nem tem capacidade sequer comparáveis às da Aliança Atlântica. Essa é portanto uma visão pragmática.
Isto não desvaloriza a União Europeia, antes tem a consciência do que não existe ao nível da União Europeia. E não é só uma matéria de capacidades próprias, porque essas vão ter que se desenvolver por cada um dos Estados-membros que necessitam de mecanismos de financiamento. Do ponto de vista prático, se a um dado momento for necessário desencadear uma missão estritamente europeia, não é possível, porque não há esta estrutura de comando e controlo. E, portanto, ou se faz do ponto de vista da cooperação multilateral através da Aliança Atlântica ou através de uma estrutura ‘adhoc’ europeia. Creio que muitas vezes é a esta última que Emmanuel Macron se refere quando fala nesta resposta.
Não se trata do exército europeu?
Não. A NATO não tem um exército, não tem forças armadas próprias. As forças armadas são dos Estados-membros. O que a NATO tem é uma estrutura de comando que permite a ativação, a operacionalidade e a interoperabilidade daqueles que estão dentro da estrutura militar da Aliança Atlântica. A União Europeia não é e nunca foi - e desde o início da década de 50 que optou por não ser - uma Aliança militar. Neste contexto temos de perceber, por um lado, o que os Estados-membros da União Europeia sentem hoje como um potencial risco ao seu próprio território colocado pelo posicionamento e pela ameaça da Federação Russa, e , por outro lado, pela necessidade de criar uma ‘zona-almofada’ e dar garantias de segurança à Ucrânia, se for para levar a sério a adesão da Ucrânia à União Europeia e depois, eventualmente numa esfera diferente, à Aliança Atlântica.
O que é do interesse europeu numa negociação para a paz na Ucrânia, do ponto de vista da Segurança e Defesa? Já ultrapassámos a linguagem das neutralidades?
Essa linguagem já foi ultrapassada e parece quase impossível voltar atrás no posicionamento e no compromisso político em torno da luta pela liberdade, pela democracia e pela opção de escolha dos ucranianos que não é compaginável com um processo negocial que coloca em causa essa liberdade. Aquilo que a União Europeia tem como interesse é avaliar como é que a situação da Ucrânia vai ter influência naquilo que é a sua projeção regional. Como é que os Estados dos Balcãs, a Moldova, a Macedónia ou a Geórgia passam a ver a União Europeia em função daquilo que seja o seu comportamento em relação à Ucrânia?
É do interesse da União Europeia - e de todos - ter um processo que permita a consolidação de uma convivência e, portanto, da paz e da estabilidade entre a Ucrânia e a Federação Russa. Desse ponto de vista, deve assumir que desde 2004 a Ucrânia tem vindo internamente a debater e a optar sucessivamente pelo modelo social e político da União Europeia e não pelo modelo da Federação Russa. O modelo social e político da União Europeia permite a multiculturalidade e a existência de comunidades multinacionais e multiétnicas. É isso que nós temos presenciado. Abdicar disto é abdicar das orientações do alargamento da União Europeia e a relação da União Europeia com aquilo que é designado como a sua ‘vizinhança próxima’, ou seja, os Estados que estão na sua proximidade.
A União Europeia e a NATO são universos diferentes. Há observadores que consideram que será mais fácil uma adesão europeia que possa abrir caminho depois, eventualmente, à clarificação da situação com a entrada na NATO. A situação pode também evoluir inclusivamente para um ‘conflito congelado’. Este o caminho que se espera ?
A diferenciação entre a NATO e a União Europeia é muito clara. A União Europeia é um projeto político, social e económico. A NATO é uma Aliança política e militar. Cumprir os critérios de adesão à Aliança Atlântica significa ter uma estrutura militar e a garantia de resposta, seja da NATO ou do Estado em causa, ao artigo V, ou seja, à defesa mútua. É isto que se coloca no caso da NATO e não nos mesmos termos no caso da União Europeia. Todas as decisões na União Europeia nesta matéria são consensualizadas, negociadas e têm várias instituições - a Comissão e o Parlamento em debate com os Estados. Na Aliança Atlântica não é assim, há unanimidade dos Estados. Isto é muito diferente no seu processo de desenvolvimento do ponto de vista institucional. Portanto, vejo muito mais difícil a Ucrânia aderir à NATO num curto espaço de tempo, comparando com a capacidade de adesão à União Europeia neste modelo social, político, económico.
O que é que implicaria um cenário de ‘conflito congelado’ na Ucrânia no interesse dos europeus dos cidadãos europeus? Um investimento contínuo e crescente na Defesa?
Sim, porque um ‘conflito congelado’, por natureza, é aquele que pode eclodir a qualquer altura e em que temos alguma dificuldade de antecipar devidamente o momento da sua eclosão. Ter um ‘conflito congelado’ num Estado que divide os Estados-membros da União Europeia e a Federação Russa, sem antecipar uma alteração substantiva no comportamento da Federação Russa e na forma de exercício da sua dimensão militar e de política externa, com esta adesão em carteira, isso dificulta muito o cumprimento dos critérios pela Ucrânia. Sejamos claros: é muito difícil a um Estado que está numa situação de guerra - e que se alastra a áreas muito significativas do território - que tem uma economia muito desenvolvida do ponto de vista tecnológico, mas também muito sustentado do ponto de vista agrícola e da indústria de matérias-primas brutas, é muito difícil cumprir os critérios de adesão.
Isto implica uma alteração do sistema judicial, uma relação dos sistemas judicial e político, o combate à componente da corrupção - provavelmente dos mais estruturais na sociedade ucraniana – e a relação civil-militar. Há aqui uma série de questões que tornam muito difícil à Ucrânia cumprir [os critérios de adesão].E o financiamento que a União Europeia disponibiliza à Ucrânia, como a qualquer outro dos Estados candidatos, ocorre neste processo. Ora, ter isto e ao mesmo tempo ajudar bilateralmente a capacitação militar da Ucrânia, a manutenção da sua capacidade de sobrevivência à guerra e de ultrapassar a intervenção militar russa é um cenário de extrema complexidade. Eu creio que há momentos em que temos de ser bastante pragmáticos nas prioridades a definir.
Ouvimos em debate os cabeças-de-lista às eleições europeias colocarem a questão dos receios dos filhos e netos, um dia, irem combater para estes territórios. Estamos a falar eventualmente de presença em países europeus, eventualmente membros da NATO e não da entrada de tropas europeias na Ucrânia?
Qualquer intervenção de Estados europeus no conflito da Ucrânia far-se-á num contexto multilateral. Isso significa forças armadas profissionalizadas, ou seja, quem tem carreira ou está contratado pelas forças armadas. Não estamos a falar da conscrição ou do recurso a reservistas para irem combater na Ucrânia. Isto é politicamente indefensável.
Uma outra coisa é, numa situação-limite e, se quisermos, completamente distópica, existir uma guerra que afete os Estados europeus e que os obrigue ativar mecanismos de conscrição. A ativação desta constrição e de reservistas para uma luta em território europeu não existe desde a Segunda Guerra Mundial.
Vários Estados europeus têm um sistema de participação cívica que pode optar por capacitação do ponto de vista militar, do serviço comunitário ou da componente cívica. E esta tem sido a tendência, em momentos diferentes da vida e com diferentes modelos, que tem sido desenvolvida em vários Estados, essencialmente nórdico e agora na Europa de Leste, o que também está muito relacionado com a própria cultura política e com a construção das identidades e das comunidades sociais em cada um destes Estados.
Dito isto, os jovens de hoje não são os mesmos de há 30 anos. A forma como estão envolvidos na componente de cidadania e a sua relação com a dimensão militar dos conflitos é muito diferente. Isto exige que se faça - e este é o meu entender há muitos anos - uma preparação do ponto de vista educativo. Não cabe às forças armadas de nenhum Estado fazer educação cívica. Cabe às instituições civis fazer educação civil.
Mas alguns países voltaram à questão do serviço militar obrigatório.
Porque a educação cívica não existe. E a dimensão do ponto de vista legislativo ou normativo mais ágil é optar pelo serviço militar obrigatório, capacitando os reservistas para caso de necessidade.
Então, se coloca o foco na profissionalização deste serviço militar, este recrutamento não faz sentido neste cenário?
Pode fazer sentido para aqueles e aquelas que queiram ter a disponibilidade de servir as Forças Armadas. Há um desconhecimento profundo - e não é só na sociedade portuguesa - sobre o que é que as Forças Armadas fazem, o trabalho que desenvolvem em território nacional, na defesa dos nossos espaços de soberania, nas missões internacionais. E - este é o meu ponto em relação ao serviço militar obrigatório - nem todos e todas têm as características necessárias a servir nas Forças Armadas. É preciso fazer essa caracterização e perceber o que é necessário.
Mas é possível e necessário recrutar mais para os quadros?
É necessário recrutar mais, mas, acima de tudo, é necessário reter. Podemos ter um nível de recrutamento até importante, mas se as pessoas não ficam ao fim de 1 ou 2 anos, esse recrutamento não nos serve.
Isso tem a ver com valorizações salariais?
Tem uma componente de valorização salarial, mas no caso das Forças Armadas ainda é mais complexo, porque os estudos socio-demográficos demonstram que a relação das gerações mais jovens - entre os 15 e os 30 anos - com a vida profissional é diferente face há 15 anos. [Trata-se do] compromisso da condição militar, a relação com a atividade profissional e a questão do desafio cíclico. Eles querem um desafio, não querem uma profissão para a sua vida, que era aquilo que tinham os meus pais, que agora têm 60 ou 70 anos. Eu já não penso na profissão para a vida e a minha filha nem faz [ideia] nem quer [fazê-lo], mas sim ir alterando e experimentando.
O debate é diferente em Espanha, França ou Alemanha?
Não. Há uma evolução do ponto de vista sociológico que não é exclusiva a Portugal. Num seminário sobre Defesa europeia e estas questões sociológicas, com academia do ensino superior civil e a componente militar, tive uma conversa muito interessante com uma oficial alemã que dizia: "eu não consigo nem recrutar, nem reter".
Este é um problema estrutural do ponto de vista sociológico, porque as nossas Forças Armadas, portuguesas e europeias, estão a funcionar com culturas organizacionais e institucionalizadas de uma forma que decorre daquilo que é a sua experiência histórica e que é diferente de país para país. Mas, como todas as outras instituições - seja partidos políticos, as universidades, etc – as Forças Armadas não acompanham a evolução e a rapidez das alterações sociológicas.
Mas, numa das maiores potências europeias - não da União - como é o caso do Reino Unido, a questão do serviço militar está em cima da mesa para as eleições deste Verão. Estarão os britânicos a antecipar algo que não estamos a ver?
Creio que a questão do debate eleitoral é muito importante nesse ponto. Essa proposta do Partido Conservador é diferenciadora dos restantes e é necessário olharmos com atenção para a receção dessa mensagem e dessa proposta por parte de determinado eleitorado. Gerações com 50,60,70 anos provavelmente terão uma abertura e um conceito diferente do que o eleitorado dos 18 aos 30 anos.
O Reino Unido é um grande parceiro atlântico dos Estados Unidos e da própria Europa, agora fora da União. Já depois do Brexit, que lição principal deve ser retirada na relação da Europa continental com o Reino Unido?
Creio que a lição já foi aprendida e é a de que não é possível ter Segurança e Defesa na Europa sem o Reino Unido. Puxando para a minha área profissional, do ponto de vista académico, de Investigação & Desenvolvimento, [a lição] foi brutal, em particular para as instituições do Reino Unido e para as instituições europeias que beneficiam muito da cooperação com o Reino Unido, incluindo a dimensão da Segurança e Defesa em matéria de inovação e tecnologia. Espero honestamente que uma nova adaptação do acordo entre a União Europeia e o Reino Unido possa colmatar estas componentes essenciais da Investigação & Desenvolvimento e, por maioria de razão, de ensino superior, porque isso tem uma importância muito significativa nas capacidades e posicionamento estratégico em matéria de Defesa e Segurança.
E funciona bem dos dois lados do Canal da Mancha?
É muito claro para os dois lados, até porque a indústria britânica de Defesa é a segunda maior a seguir aos Estados Unidos no âmbito da Aliança Atlântica. Tem uma capacidade de resposta que as indústrias de Defesa alemã e francesa, em particular, e até italiana, sueca, espanhola, não têm de forma nenhuma. Têm um nível de inovação e desenvolvimento tecnológico que é superior aos estados da União Europeia neste momento.
Tomemos por claro que a questão da tecnologia se coloca na questão do duplo uso civil e militar. Neste momento está em cima da mesa a forma de financiamento, com os chamados "defense bonds" ( obrigações para a área da Defesa). É um assunto que vai passar para lá das eleições europeias, para o Conselho Europeu de Junho. Isto tem 'pernas para andar'?
Por uma razão de sobrevivência, sim. Tal como aconteceu com a resposta à crise económica que sucedeu à pandemia, todos os Estados da União Europeia precisam de financiamento para as suas capacidades de Defesa. Não é algo necessário apenas a um grupo de Estados, é uma necessidade muito transversal.
Mas houve um aumento da despesa desta matéria em 2023 da ordem de 270 mil milhões de euros na Defesa.
Há um aumento, em casos muito particulares, que chegam até aos 50% na Defesa, como é o caso da Polónia. Mas creio que é muito fácil de entender que esse aumento, tendo uma necessidade imediata, não é sustentável. Aquilo que é necessário é não só a substituição das capacidades que foram transferidas para a Ucrânia, mas sobretudo a modernização das capacidades existentes e daquelas que vão ser necessárias proximamente. E estamos a falar de investimentos de centenas de milhões de euros por país.
Para o contribuinte português perceber, isso significa o quê exatamente para Portugal?
Para termos uma noção, o investimento total dos Estados europeus da NATO sem a Suécia - porque ainda não tinha fechado em Dezembro 2023 - é superior ao PIB português. Foi isto que em 2023 foi investido na componente de Defesa.
Desde a Cimeira de Gales da Aliança Atlântica, com o compromisso dos 2% de gastos em Defesa, que não sei se esses 2% chegam para aquilo que é necessário para Portugal, para a Bélgica ou para a Polónia. Os 2 % para mim são um critério um pouco cego para estabelecer um compromisso em que, agora com a nova narrativa, este é o mínimo.
E as lideranças políticas já perceberam que o critério pode ser cego?
A alteração do produto interno bruto varia tal como as necessidades de cada Estado. Ou seja, o caso da Alemanha, com um PIB brutal - e as Forças Armadas alemães não estão na melhor fase de modernização - é diferente do PIB português e das necessidades portuguesas só em termos de manutenção do equipamento existente. Se adquirirmos outro equipamento, se estivermos a falar de aviões de combate ou de plataformas em navios ou em satélites, estamos a falar de milhares de milhões de euros.
Que vão ao orçamento português na área da Defesa.
Que até agora estão exclusivamente financiados pelo orçamento nacional, à exceção da plataforma marítima que está a ser financiada no âmbito do PRR. Sobre os 'defense bonds', temos que ter em atenção que a estrutura institucional está montada na União Europeia e designadamente na Comissão e, portanto, ela pode ser multiplicada ou pode ser aplicada noutras áreas de política. Tendo em conta que há uma necessidade transnacional na União Europeia, todos os Estados da União Europeia não conseguem financiá-la através do orçamento nacional.
Creio que será quase inevitável seguir por um mecanismo de financiamento europeu, que pode ter origens no orçamento comunitário - através de um aumento das receitas próprias do orçamento comunitário, subindo a contribuição de impostos ao carbono ou ao digital, etc - ou um mecanismo equivalente aquele que é usado nos planos de recuperação e resiliência, autónomo daquilo que é o orçamento comunitário, e que serve especificamente para esses fins se forem cumpridos determinados critérios.
Poderá ser esta segunda opção? Já existe um caminho feito no campo da Recuperação e Resiliência.
Não sei. É certo que existe esse caminho, mas, ao mesmo tempo - e isto é o que é importante decidir nos próximos 5 anos em termos europeus de Segurança e Defesa - os produtos de Defesa vão ou não entrar no mercado comum da União Europeia? A França já se demonstrou disponível para isso. Era a principal indústria de Defesa que o tinha bloqueado. Isto muda tudo, porque fica a preço muito mais baixo, porque não pagamos os mesmos impostos quando adquirimos um produto.
Se vão entrar, com que critérios? Qual é a forma de entrarem no Mercado Comum? Existindo o financiamento, por via de orçamento comunitário ou por um mecanismo equivalente ao PRR, quais são os critérios para participar nisso? E aqui os dois critérios parecem-me claros: comprar à indústria Europeia e ser interoperável.
Que diferença fará a existência de um Comissário europeu da Defesa?
Será dizer claramente que é para entrar no Mercado Único. Até agora, a Defesa é a única área de política que permanece na estreita soberania dos Estados nacionais no contexto da União Europeia. A criação, que já temos, de uma Direção-Geral da Indústria de Defesa e Espaço na dependência do Comissário para o Mercado Único é um indicador de que isto vai acontecer.
Ao criarmos um Comissário da Defesa, a minha primeira pergunta é: como é que se vai articular com o Alto Representante que também o é para a política de Segurança e Política Externa? E quais são as suas competências? Só podem ser para tornar o mercado e as indústrias de Defesa mais na esfera da União Europeia.
A centralidade da guerra na Ucrânia e também a questão do Médio Oriente pode manter a Europa na preocupação estratégica de Estados Unidos e China e evitar um diálogo apenas a dois, emergindo a União Europeia como um tabuleiro ainda relevante? Especula-se que a Europa pode perder a sua força, sobretudo se Donald Trump for eleito.
A União Europeia só pode ter um papel se internamente criar capacidade para exercer esse papel. E isso não passa exclusivamente pela dimensão militar. Daí que a questão da Ucrânia seja muito importante, porque é a imagem da relação do compromisso que passa para os países fora da União Europeia.
De um ponto de vista estratégico, o pior que pode acontecer à União Europeia é ter que optar entre os Estados Unidos e a China. Ambos estão neste momento a desenvolver uma dimensão protecionista do ponto de vista comercial muito significativa. A União Europeia está em contraciclo face a este protecionismo.
Em segundo lugar, isto colocaria esta dualidade entre os Estados Unidos e a China de uma forma que não é compatível com a interdependência, as relações comerciais, sociais, económicas e culturais que a União Europeia quer, tem feito e defende.
Num terceiro ponto desta dimensão estratégica, é necessário que os Estados europeus tenham consciência, tal como como os Estados Unidos - a China já a tem - que a forma como os Estados do mundo hoje se veem a si próprios e o seu papel no sistema internacional é muito diferente.
A capacidade de interagir com palestras sobre a democracia, os valores, os princípios, as incoerências, os padrões duais na aplicação de medidas, a noção do desenvolvimento económico, etc, já não é hoje aceite e tolerado por boa parte dos Estados. Isto significa que, por um lado, estes Estados não querem ter de optar entre a Europa e a Aliança Atlântica. Ou estão de um lado ou estão do outro. Querem ter relações com a China, com a Rússia, com os Estados europeus, com os Estados Unidos, com a Índia, etc.
Isto implica que a União Europeia se reveja um pouco nesta alteração. A lógica de se colocar como um ator mais importante do que os outros tem que ser balanceado com a sua capacidade económica, comercial - que é bastante - política - que é menor - e diplomática - muito mais instável e vulnerável.
Ligando às reflexões que vieram do grupo de trabalho que liderou na NATO sobre a questão da vizinhança, o relatório diz claramente que a NATO tem que reforçar o seu diálogo, integração e estabelecer mais parcerias. Alguns países do Sahel já estão a optar pela Rússia. Quão relevante e urgente e que tipo de intervenção deve a Europa desenvolver nos próximos anos em relação a estas regiões?
Devo dizer que a relação NATO-União Europeia é hoje provavelmente o dossier mais difícil.
Porquê?
Há um bloqueio do ponto de vista político, em que naturalmente a Turquia tem um papel fundamental em relação à União Europeia por causa da questão de Chipre, da Grécia, etc. Mas é muito mais do que isso. Algo que nos parece profundamente racional, que é a união de esforços entre os aliados da NATO na sua componente América do Norte ( Canadá e Estados Unidos) e os parceiros aliados europeus, tem esta dificuldade e este obstáculo.
Falar de pilar europeu na NATO não é exatamente comum no entendimento do que é que isto significa. Ou seja, são os Estados da União Europeia que se reforçam autonomamente dentro da NATO? São os Estados europeus que se reforçam entre si e em paralelo aos Estados Unidos e ao Canadá? Ou é efetivamente uma capacidade de resposta europeia no contexto da Aliança Atlântica?
Há estes 3 entendimentos e isso dificulta muito a unanimidade e a prossecução de um processo político - porque ao nível técnico, do aparelho e da estrutura militar vai acontecendo e vai-se desenvolvendo - há sempre o pormenor de 'conforme o que é acordado'. Ou, do ponto de vista técnico, quando nós queremos subir isto ao nível político e diplomático, existem mais dificuldades.
A minha questão tinha a ver com a vizinhança sul da Europa e os desafios que para a Europa têm, não apenas os do impacto das migrações, mas aquilo que é feito lá mais longe, no Sahel e noutras zonas. O que é que é necessário e prioritário para a União Europeia neste ponto de vista?
Em primeiro lugar, é necessário explicar e aparecer como uma entidade que tem capacidade de fazer. Convencê-los de que a Europa pode fazer coisas com eles. E esta é a grande diferença. Há um entendimento da Aliança Atlântica, que pude verificar empiricamente - não o fiz para a União Europeia, mas não me parece que seja muito diferente - em que os aparelhos de Governo e estruturas militares não distinguem a NATO de cada um dos seus aliados. E cada um tem comportamentos muito diferentes e sabemos o percurso que a França teve no caso do Sahel, que internamente na França é muito difícil de digerir e que tem obviamente impacto para todos os Estados europeus.
O que é que a Europa pode fazer? Desde logo, abordar de frente e responder que é isto que pensam, porque os compromissos da Federação Russa e da China para com estes Estados são muito transacionais. O que deixam naqueles Estados em termos de desenvolvimento social e económico - já para não falar na dimensão política - é muito frágil.
Mas alguma coisa correu mal porque eles trocaram até afinidades linguísticas, inclusivamente por esse duplo pivot.
Correu mal, precisamente porque - e aqui mais a União Europeia do que a Aliança Atlântica - a cooperação que tem desenvolvido com esses Estados assenta no 'ou seguem a nossa forma ou não cooperamos, porque a nossa forma é aquela que permite o desenvolvimento social'.
A Europa é inflexível na maneira de agir?
Muito. Basta olhar para os acordos que são assinados com países terceiros. São réplicas uns dos outros, independentemente daquilo que possam ser especificidades de comunidades subnacionais, em que há um primado da presença europeia e nem sempre há a atenção e a resposta aos verdadeiros problemas daquelas sociedades.
Temos hoje a maior catástrofe humanitária no Sudão. O que é que temos ouvido e feito sobre o assunto? Claro que a questão de Gaza é uma catástrofe e uma tragédia humanitária, isso não está em questão. Mas se olharmos para o mapa, o Sudão está numa faixa muito sensível em relação aos Estados do Sahel, ao Norte de África, à África Subsaariana e aos movimentos de criminalidade organizada.
Deste ponto de vista, os instrumentos de cooperação que os Estados europeus, a União Europeia e à Aliança Atlântica têm desenvolvido sobre essa matéria ainda são muito frágeis.
A estratégia do Pacto Europeu das Migrações e Asilo terá algum impacto positivo na segurança da vizinhança sul da Europa?
O Pacto para as Migrações é um pacote legislativo. Em Abril foram aprovados regulamentos e diretivas que dão corpo a este Pacto migratório. No próximo ciclo legislativo haverá outros que o vão pormenorizar para além da implementação.
Estou muito preocupada com a legislação que foi aprovada em relação a este Pacto migratório, designadamente o controlo em fronteiras externas da União, ou seja, colocar a responsabilidade noutros Estados antes dos migrantes entrarem em território europeu.
Preocupa-me muito a questão dos menores não acompanhados e o facto de, no limite, a União Europeia deixar entrar menores e não as suas famílias que estão com eles no processo migratório. Há aqui valores básicos que podem ser colocados em causa em matéria de implementação do Pacto.
É aquilo a que damos o nome muito pomposo de 'externalização', que foi evidente no acordo entre a União Europeia e a Turquia e agora está a ser também no acordo com países terceiros no caso da Tunísia. Acontecerá certamente no caso de Marrocos e da Líbia, país que não tem nesta altura estruturas para fazer isso.
Traz maus augúrios em relação à forma como essa externalização vai ser feita?
Traz uma desresponsabilização do processo de tratamento administrativo e do acesso tratamento e partilha dos dados destes migrantes. Traz também desresponsabilização sobre como entra quem entra. Este Pacto, visto fora da União Europeia , implica colocar fora a responsabilidade de acesso. É certo que o projeto europeu é de livre circulação de bens, pessoas e serviços dentro do espaço europeu e é certo que a questão migratória tem sido utilizada politicamente nessa matéria.
Se a União Europeia quer ter a imagem de estar em paralelo com outros atores internacionais, a questão migratória significa que nos vêem como sociedades onde ambicionam viver. Esse é o nosso cartão de visita como europeus, é o modelo social europeu. [Estas pessoas] não ambicionam migrar para a Rússia, não ambicionam migrar para a China, ambicionam o modelo social e político europeu.
Não significa que todos têm que entrar. Obviamente temos de ter uma migração regular, com regras, mas a mensagem é: 'travamos-vos antes de nos baterem à porta'. E isso pode ter um impacto bastante mais prejudicial para a imagem do projeto europeu e dos Estados europeus do que o que poderíamos antecipar numa outra circunstância.
.png)


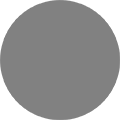 category-label-
category-label- 






