O grande certame ligado ao negócio dos livros regressa ao Parque Eduardo VII. Diz que está maior e que este ano ainda tem isto e mais aquilo, mas, no fundo, está igual, felizmente. E se tudo permanece na mesma, pelo menos incita-nos a mergulhar nos bastidores e a escutar aquilo que se dizem os escritores,…
A Feira do Livro em Lisboa é uma estação própria, um momento em que a cidade se entrega à cada vez mais rara vertigem de uma hipótese de deriva, e isto ao abrigo desse flirt com os livros, e da errância lúdica nas suas possibilidades combinatórias. Folhear este, cheirar aquele, passear pelo Parque Eduardo VII como quem atravessa um exuberante índice. De algum modo, parecemos ser devolvidos ao gozo de flanar através daquele espaço concentrado em que a vozearia se submete a um subtil recital e parece ser capaz de compendiar tudo de maneira caleidoscópica. Ao mesmo tempo é nesse quadro de abundância, no despropósito de todo aquele excesso, que se percebe o lado paradoxal de uma indústria que bem pode andar sempre com a crise na boca mas que, chegando esta altura do ano, se exibe ali na sua condição proliferante, obesa e até supérflua, oferecendo-nos um vislumbre do paraíso, que hoje só concebemos enquanto essa acumulação que parece dirigir-se ao infinito. Assim, podemos encarar todo este excesso sob o signo da previsão e provisão, como faz Valéry. Os livros são adquiridos ao abrigo desse efeito de salivação fantástica, como uma promessa a si mesmo, a de uma disponibilidade para os lermos, mais tarde, noutro dia, e esse gozo em si mesmo é maior do que a leitura compenetrada de um só título. «Contemplar pilhas de alimento duradoiro não será divisar tempo de sobejo e atos poupados?», questiona Valéry. «Uma caixa de biscoitos é um mês inteiro de preguiça e de vida. Panelas de carne conservada em gordura e cestos de fibra entulhados de sementes e de nozes são um tesouro de quietude; no seu perfume, está em potência um Inverno cheio de tranquilidade… Robinson comparava a presença do futuro ao aroma das caixas de munições e dos cofres da sua dispensa de bordo. O seu tesouro exalava ociosidade. Dele emanava a duração, da mesma maneira que de certos metais emana um calor absoluto… A humanidade elevou-se lentamente apenas sobre o montão do que dura. As previsões e provisões separam-nos pouco a pouco das nossas necessidades animais e da literalidade das urgências fisiológicas… Sugeria-o a natureza: ela fez que tivéssemos em nós algo com que resistir em parte à inconstância dos acontecimentos; a gordura que possuímos nos membros, a memória sempre pronta na espessura das nossas almas, constituem modelos de recursos em reserva que a nossa indústria imitou».
Ora, a analogia aceita que se troque os víveres que sustentam a carne por esses que devem guarnecer e tranquilizar o espírito, oferecendo-lhe a perspetiva de um infinito recreio. Afinal, como assinalou Marguerite Yourcenar, «fundar bibliotecas era também construir celeiros públicos, armazenar reservas contra um Inverno do espírito que, por certos indícios e infelizmente, vejo que se aproxima».
Os bajuladores e a fogueira
Por estes dias, a vertente dominante nos discursos será aquele fervoroso amor aos livros, que ali desce ou até se concentra sobretudo nas suas entranhas materiais. Perigo maior para a leitura do que aqueles que desejariam trazer de volta o Índex dos livros proibidos, que em lugar de qualquer feira antes prefeririam fazer do Parque Eduardo VII o palco de uma enorme fogueira, poderá ser o desses bajuladores constantes, todos esses bibliómanos e catequistas que não se cansam de declarar a sua obsessão pelos livros, sujeitando toda a coisa publicada, pelo simples facto de ter sido publicada, a esse efeito de indistinta sacralização.
Para reagir a este ambiente de celebração enfaticamente melosa, teríamos de procurar alguém dotado de uma audácia demoníaca como a que revelou o dadaísta Jacques Vaché, que, em certa ocasião, subiu ao palco de um teatro parisiense, puxou de um revólver e ameaçou disparar contra quem quer que se atrevesse a aplaudir a peça. Mas talvez essa forma de messianismo escabroso ou invertido seja ainda um modo de recair nos mesmos vícios, e baste iluminar a forma como tantas vezes a literatura se tem revelado uma indústria da produção de venenos que servem para todas as ocasiões.
Se noutros tempos as tricas literárias podiam dar origem a cenas de tiros, cabeças rachadas, duelos, se hoje o espírito polémico se foi reduzindo à troca de chistes, inconfidências e agravos, persistem ainda certas intrigas revoltantes, canalhices de toda a ordem. Como notou Claudio Magris, «os juízos de tantos grandes artistas sobre os seus colegas revelam uma singular obtusidade ou uma rancorosa e pueril inveja, incapaz de controlar-se ou mascarar-se».
Além dos tantos contributos que figurariam com destaque num Dicionário Universal do Insulto, quando dois ou mais espíritos assumem abertamente a hostilidade que antes apenas perpassava em apartes comedidamente acintosos, temos muitas vezes acesso a um nível de empenho e a uma catilinária que chega a elevar o fulgor das trocas, dando-nos a ler algo mais vivo, um texto realmente indisposto, tantas vezes irreverente, irónico e mordaz, permitindo servir aos leitores uma série de factos que estavam escondidos e que era necessária conhecer para poder entender a distribuição das peças e aquilo que motiva as oposições em cena, sendo que esses aspetos que então emergem permitem estabelecer paralelos mais vastos e fazer analogias com quadros de conflito mais sérios.
De resto, e como vincava Eça, o grande horror da nossa pátria é a mesmice. E muitas vezes a melhor forma de fazer mexer essa sopa tantas vezes requentada, para não estar a lançar apenas a salsa fresca em redor, para parecer um acepipe novo, é preciso uma boa dose de perfídia e algum desbragamento, são precisas farpas, punhaladas, e tudo às claras. Em vez desse reflexo ao mesmo tempo bisonho e afetado, da respeitosa aversão, mais vale produzir alguma punção, congeminar um enredo vulcânico que faça espirrar para a superfície aquilo que vive encravado, infetando-lhe as entranhas. «Eu admiro Victor Hugo justamente como ele admirava Shakespeare – comme une brute», regista Eça.
Inteligência de escabeche
Não nos faltam exemplos na história da literatura de enfrentamentos muitíssimo produtivos, polémicas saborosas, génios pestíferos, desde logo o de Camilo que perguntava a um dos tipos com quem ensarilhou cornos «há quanto tempo conservava de escabeche a inteligência». A outro classificou-o como «um idiota piramidal», doutro dizia esperar que tivesse morrido de uma congestão de parvoíces, ainda frechava mais alguém dizendo-lhe que não passava de um mendigo de rudimentos, e alcunhou mais um de «descompassada besta». Mas, no tocante ao currículo interno, quem mais longe foi na divisão das águas entre uma camaradagem exigente, tantas vezes dolorosa, e a recíproca tolerância hipócrita, foi Luiz Pacheco, que andou por cá desassossegando, espicaçando, gerando alvoroço, e deixando claro que o pacto que há muito tem prevalecido entre literatos passa pelo amolecimento mútuo, que apenas reforça «a mesquinhez das almas, a tibieza do carácter, a infantilidade nas convicções, o emburguesamento num cálculo espertalhão que é, à descarada, a renúncia para mais tarde (quando?) aos objetivos supremos nas vantagens (imediatas, estas!) da vida prática».
Foi ele quem fez uma obra inteira como marginália no libreto desta opereta repetitiva e azucrinante. Pacheco cozinhava para todos a sua especialidade de cabidela, que ia alternando com papas de sarrabulho, às vezes também uma bela chanfana. Ali, todos enfardavam. E se condimentava o prato com potentes imprecações apontadas a cada um dos que sentava àquela mesa, a sua maior habilidade era mesmo essa capacidade de apurar o gosto e servir-se das miudezas sem perder de vista o quadro geral. Ele via como o corolário desta convivência harmoniosa que promove os pratos do dia, passa sempre por formas de aliciamento e promoção que na verdade funcionam como um convite ao imobilismo. «Agora, pois, o convívio pragmático e premeditado é hábito rasteiro e tem, como se calcula, regras invioláveis. E a mais comum é esta: NÃO FAÇAS ONDAS!»
Em lugar desse registo que melhor serve aqueles que se limitam a papaguear as mesmas doutrinas, vigiando a tensão arterial, desaconselhando o sal e a pimenta, proibindo expressamente ingredientes mais explosivos, Pacheco procurou instigar um espontâneo movimento de polémica, de antagonismos inconciliáveis em riste, de grupos de opinião diversos.
A título de exemplo veja-se como arrancava uma das suas crónicas publicada nas páginas do Diário Económico, em maio de 1996: «Cesariny queixa-se que [José-Augusto] França é larápio porque lhe roubou a ideia de ter ido a Paris cheirar o rabo do Breton. Diz que quando lá chegou o rabo do Breton já estava tão cheirado pelo França que mesmo muito espremido não conseguiu arrancar-lhe o mais pequeno traque de surrealismo para trazer para Portugal. Quando chegou a Lisboa já António Pedro implantara o Surrealismo Minhoto…»
‘Ele quer é acomodar-se’
É um fartote, uma pega medieval, fazendo jus ao dito de Mário Sacramento de que «a polémica à portuguesa é uma tourada à espanhola». No caso de Pacheco, foi o vício de definir ou mesmo de desmascarar as pelintrices à sua volta que fez dele um tão talentoso energúmeno. Mas vamos então a um breve compêndio dessas bordoadas que servia nas páginas dos jornais, nos seus livros ou na sua correspondência, provocando um tal estardalhaço, «como quem lança uma bomba na cave». Comecemos por aquela vez em que se atirou a um dos seus mestres, sempre disposto a fazer revisões na matéria dada e a pôr em causa mesmo aqueles que tanto admirava: «esta noite cansei a vista a reler a Eugénia Grandet, numa tradução debilitada, tadinha! Achei-me depois a gostar menos do Camilo onde notei que algo de Balzac nele surdia ou era, francamente, rapinado. Foi justo que uma tese sobre o Camilo (do Paulo Osório, um estupor de um monárquico muito reacionário que se exilou em Paris e nos chateava de lá com dois nomes, o dele e um pseudónimo francês [esqueceu-me]) fosse in illo tempore rejeitado na Sorbona? Foi. Para que queriam eles lá o Camilo, depois do Balzac e do Flaubert, etc.? Mas para nós serve e é bem-bom, devido à linguagem e, até, ao barbarismo do indígena e dos seus personagens».
Vamos a outra: «E o nosso Davi [David Mourão-Ferreira]? Bem. O Davi é um caso sério, como aquilo nunca vi. O vício do cachimbo, indispensável acessório para lhe compor a personagem (e já agora morrerá assim), atrapalha-o sempre à mesa. Engasga-se com a sopa porque, distraído, começa a sorvê-la pelo cachimbo (confundindo-o com a colher); enrola o spaghetti na boquilha, embrulha-se em fumarada, desaparece feito Juno ou nuvem (só a Posteridade julgará). E está sempre inquieto, ansioso, por entrar em cena com o seu melhor sorriso de mula velha declamar ode ou redondilha de circunstância (trata-se de emérito oportunista, prudente prudentíssimo, um passo à frente dois atrás). E, à cautela, contentou-se em comer amendoins que o anfitrião [Mário Soares], com o mais afável semblante, lhe ia atirando para a gamela». E já que estamos nos grandes figurões, seguimos com Eduardo Prado Coelho: «E o Coelho rapazola? Em meia dúzia de anos já correu meia dúzia de partidos ou grupelhos, e sai sempre para pior e de cabeça alçada, com carta-aberta de declaração de voto, excomungando tudo e todos, só ele o certinho, o infalível reboludo». Depois o poeta mais imitado, também por ser o que mais se edulcorava: «Comprei há pouco a obra quase toda do Eugénio de Andrade. Ah! Ah! Ah! Bardamerda! São quatro merdices e mais nada. Também ele não tem vida para fazer nada, ele não quer lutar contra nada, ele quer é acomodar-se».
Depois há essas inconfidências que ainda hoje arrepiam meio mundo, entre os que cá andam, e grafam a Literatura sempre com maiúscula. «Eu nunca aguentaria uma situação idêntica à do Saramago, por exemplo. A Pilar controla tudo, de manhã à noite. O homem não pode ter aventuras nem com homens nem com mulheres. Nada. Está ali com o mirone sempre a pau. O que é que há-de fazer? Faz boletins do gabinete do senhor escritor José Saramago. Tanto dá que tenha sido escrito por ele, pela mulher-a-dias, pela Pilar, pela Desidéria. Ele no fim assina e pronto. Vai aqui, vai ali, recebe prémio, não recebe prémio. Ele é um computador. Mesmo que tivesse vivido ao longo destes anos uma aventura qualquer não pode escrevê-la. Está impedido».
Comentando Conta-Corrente, os diários de Vergílio Ferreira, escreve isto: «Obra detestável, estendal de maus sentimentos, foi o que dali percebi. Por exemplo: exagerado orgulho, fraquezas de ciumeira, cálculos de promoção (na ganância do Nobel), nos snobismos da convivência (presidencialista), odiozinhos caseiros, misoginia exacerbada, reminiscências do seminário, beatices de sacristia, caganças de grande homem duvidoso de si, prosa despachada inútil, livros totalmente supérfluos». Depois, e sobre os riscos de levar o trombone para todo o lado, diz-nos isto: «Como um colega de carteira de Urbano Tavares Rodrigues me previne, com amigável intenção (eu sou peso-pluma e cardíaco adiantado), que este tem o feio hábito de bater nos seus críticos (os que o não louvaminham, claro!), aqui lhe deixo o meu paradeiro habitual: todas as tardes no Café Gelo, mesa da janela, também chamada ‘a mesa dos artistas’. Ou dos ‘surrealistas’, porque é lá que se costuma sentar o Cesariny». E aqui vale bem notar que, no entender de Ribemont-Dessaignes, quando o artista não puder sair à rua sem ficar com a cara coberta de escarros e o olho arrebentado, só aí terá começo uma era de felicidade e de frescor. Só isso lhe dirá que está realmente a fazer o seu trabalho. E se os críticos já se habituaram a cozinhar de todas as maneiras os sapos que invariavelmente têm de engolir, Cyril Connoly, também ele crítico, não poupava os editores: «Assim como os sádicos reprimidos se tornam presumivelmente polícias ou carniceiros, também aqueles indivíduos que sofrem de um medo irracional à vida se tornam editores». Este remoque aponta para uma certa recusa do real, baseada na ávida apreensão de uma versão cingida aos seus signos.
‘Velha salsicha’ e outros mimos
No campo internacional, podemos deixar guiar-nos pelo trabalho de sapa feito por Magris numa das suas crónicas: «Segundo Brecht, Baudelaire seria um poeta pequeno-burguês cujas palavras são como casacas usadas viradas do avesso, enquanto para Tolstói as sensações evocadas na sua lírica não podem interessar qualquer homem são. Brecht, por sua vez, é definido por Ionesco como um didascálico e estúpido criador de personagens de cartão e Döblin como um romântico antiquado. Proust é liquidado com um só termo, ‘enormidades’, por Beckett, e apodado quase inútil epígono de Maeterlinck por Arno Schmidt. Para Voltaire, Homero é maçador, e Joyce é um medíocre para Benn, Lawrence, Virginia Woolf, Pound e muitos outros. Nabokov considera nulidades Mann, Conrad, Cervantes, Camus, Eliot e Pound. A Divina Comédia, para o expressionista alemão Albert Ehrenstein, é a obra escolástica, cerebral, pesada e sádica de um poeta musical mas monótono».
E se tudo isto nos parece bem, sentimos necessidade de levar mais longe, ir compulsar outros exemplos dessa estupenda maledicência, e começamos por Mark Twain: «Não tenho o direito de criticar livros, e não o faço exceto quando os odeio. Muitas vezes apetece-me criticar Jane Austen, mas os seus livros levam-me a um tal destempero que não consigo afastar esse frenesi de leitor; e, por isso, vejo-me obrigado a parar logo que começo. Sempre que leio Orgulho e Preconceito, apetece-me desenterrá-la e golpear-lhe o crânio com a sua própria tíbia».
Sendo certo que quem se mete nestas águas, engendrando querelas, fica à mercê da implacabilidade dos génios que lhe sucedem, eis a forma como Virginia Woolf caracterizou Twain: «Um jornaleiro que não teria sido levado em conta senão como um autor de quinta categoria na Europa. Seduziu umas quantas múmias literárias polvilhando os seus textos, aqui e ali, com algumas doses de cor local, apenas o suficiente para intrigar os frívolos e os preguiçosos». Já Henry James atirou sobre Carlyle dizendo dele que era «a mesma velha salsicha, revirando-se e gaguejando na sua própria gordura». Mas H.G. Wells também não foi meigo na hora de descrever a obra de James, notando como «os seus vastos parágrafos suam e lutam… E tudo por histórias que andam ali à volta de nada… É o leviatã a colher seixos. É um hipopótamo magnífico, mas todo quilhado, decidido a todo o custo, mesmo à custa da sua dignidade, a apanhar uma ervilha que se enfiou num canto da sua toca».
Se Edith Sitwell nos deu uma impressão bastante vívida do seu desprezo por D.H. Lawrence representando-o como um gnomo de gesso sobre um cogumelo de pedra num qualquer jardim suburbano e um mau autorretrato de Van Gogh, com um aspeto um tanto fosco e húmido, como se tivesse passado uma noite difícil nalguma cave toda carunchosa, depois também ela levou uma bela lostra de Dylan Thomas, que se lhe referiu como «uma mulheraca cheia de veneno, que mente, dissimula, vira tudo do avesso, e não se coíbe de plagiar, citar erradamente, e mostrar-se uma publicitária tão esperta e cheia de manha como se espera de um grande espécime desta classe».
Por sua vez, Nabokov talvez se tenha enciumado com os entusiasmos que provocava Conrad, e depois de ler Lord Jim, reagiu deste modo: «Não lhe aturo o estilo de loja de souvenirs, os barquinhos prontos a engarrafar e os colares de conchas de clichés românticos». Para terminar, e voltando a Cyril Connolly, certa vez este ensaiou uma bela estocada no lombo de George Orwell ao afirmar que este não era capaz de assoar o nariz sem vir com alguma preleção moralista sobre a indústria dos lenços.
«Um escritor será sempre um monstro»
Ficamos assim com uma perspetiva escatológica da cena literária e se Magris denuncia este mesquinho e faccioso menosprezo do outro – «que tantas vezes distorce no rancor a boca de grandes escritores que até proferiram grandes palavras de humanidade» –, fica claro que se oferece uma maior liberdade ao leitor que se confronta com estes sinais de repulsa entre os grandes, e que assim o libertam do excesso de mistificação e até do endeusamento dos grandes autores. De outro modo, a leitura tende a adquirir um tom de súplica, ficando-se por um exercício declamatório, desnecessariamente cretinizante, em vez de ser um treino para uma franqueza absoluta, um desbocamento interior, muitas vezes impiedoso. Convém que o sangue circule grosso como entre esses impetuosos caracteres que acabam por recompor o sentido da vida, dotando-a de um tumulto luxuriante.
«Um escritor digno desse nome será sempre um monstro», defende Pierre Costals, e assim sendo, não se percebe por que querem fazer do leitor um mero sacristão, mas todas essas exigências de respeitinho, e essa curiosa intoxicação daqueles que se tomam muito a sério e que, naturalmente, depois «ficam ofendidos com/ as bizarrias descaradas/ dos loucos./ preferem que a poesia seja/ dissimulada/ suave/ e quase indecifrável./ o seu esquema tem-se mantido/ imperturbado durante/ seculos./ Tem servido de templo/ aos snobs/ e aos falsos./ a perturbação deste santuário/ corresponde para eles/ à Violação da Santa Madre» (Bukowski). l



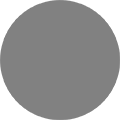 category-label-
category-label- 







