Entrevista a Bernardo Pires de Lima
07 jun, 2024 - 19:32 • José Pedro Frazão
Em entrevista à Renascença, o analista de relações internacionais Bernardo Pires de Lima admite que Kiev está a ser muito pressionada interna e externamente para flexibilizar a sua posição para um acordo de paz que passe, por exemplo, pela perda do Donbass. O autor do livro “O Ano Zero da Nova Europa”, agora editado, diz que a Europa não pode estar ao sabor dos ciclos políticos instáveis dos Estados Unidos.
Bernardo Pires de Lima lembra que serão os ucranianos a ter a última palavra apesar das movimentações que procuram acelerar um desfecho para a guerra na Ucrânia. Em entrevista à Renascença, elege a coesão como o segredo do sucesso da União Europeia e admite que o próximo alargamento vai servir, sobretudo, para conter a expansão russa.
No seu livro afirma que “estamos piores do que em 2016, 2020, 2022”. Estamos piores em quê?
Estamos piores, no sentido em que há uma deterioração da predisposição para resolver um conjunto de questões globais que não podem ter soluções localistas. Estamos a falar das alterações climáticas, dos problemas, de certa maneira incontroláveis de que estão na génese das vagas migratórias. Estamos a falar de conflitos que, na sua tipologia, entretanto tornaram-se conflitos de invasão territorial. Portanto, vejo o mundo com mais inquietação do que via nesses anos.
Muito por causa da invasão russa da Ucrânia?
Sim. Passámos por várias crises. 2016 é o ano dos grandes nacionalismos triunfalistas anglo-saxónicos, do Brexit e da vitória de Trump. Isso alterou, de certa maneira, muitos dos raciocínios mais ou menos estáveis que tínhamos. Depois passámos por uma pandemia que teve várias conclusões sobre as nossas vulnerabilidades democráticas, sobre a ascensão de autoritarismos com soluções muito fáceis, mas que não tinham nenhuma aplicabilidade no terreno.
E depois um conflito aberto, do estilo do século XIX ou XX, em que, de uma forma neoimperial e neocolonial, se atribuía a inexistência de uma soberania de um Estado em favor de uma mitologia quase civilizacional com que a Rússia se reconhece.
Tudo isto, num curtíssimo espaço de tempo, trouxe um conjunto de novos eixos, muito acelerados, que tornaram as equações de cooperação Internacional muito frágeis.
Para resolver questões de saúde pública, fomos felizes nalgumas matérias. Porque somos um espaço comunitário, a partir dessa maximização do poder conjunto, conseguimos comprar vacinas e material de primeira necessidade hospitalar mais rapidamente. Mas, mesmo assim, foi um período dramático para a vida das pessoas e acho que ainda estamos a pagar por isso. Há consequências como a disrupção económica, comercial, a inflação, perturbações do ponto de vista do abastecimento energético.
Depois veio uma guerra num epicentro energético e também alimentar em grandes territórios que são a origem de produção de trigo, de fertilizantes, de tráfego comercial para o Médio Oriente, Norte de África ou Cáucaso.
É uma rutura com um quadro de segurança europeu balizado por acordos, dos quais a Rússia também era uma das partes.
A dado passo, escreve que “a Europa precisa de antecipar melhor uma série de desafios conjuntos”. Fala num “excesso de união-europeio-centrismo e um défice de europeísmo nas nossas prioridades estratégicas”. O que quer dizer com esta expressão?
Quero dizer que há mais Europa para além da União Europeia. É um facto que os grandes problemas do continente europeu estão na vizinhança e nas fronteiras da União.
Estou a falar da Ucrânia, da Moldova, da Geórgia, do Cáucaso do Sul, do próprio Médio Oriente e do Mediterrâneo. Tudo são zonas de vizinhança, muitas delas não do continente europeu, mas que valorizam o espaço comunitário, as suas regras, a sua estabilidade organizativa.
A forma como, do ponto de vista jurídico e funcional, se encontrou uma sã convivência entre as Nações ao longo de 70 anos e tudo o que está à margem disso no continente europeu é mais frágil. É o caso dos Balcãs Ocidentais, a Ucrânia, a Geórgia. Estes povos, legitimamente, olham para o interior da União como um destino para a estabilidade dos seus países e das suas democracias. E devemos ter em atenção que essas aspirações legítimas têm razão de ser, porque o nosso espaço é, de certa maneira, singular nas relações internacionais.
O que quero dizer com ‘euro-união-europeísmo’ é que há uma certa ‘bolha’ funcionalista, um olhar quase endogâmico. Estamos sempre a olhar para dentro, esquecendo muitas vezes que há um território e uma forma de atuar do resto do mundo que não é necessariamente igual ao nosso. Muitas vezes somos confrontados com o choque de posturas.
Nessa perspetiva há um capítulo sobre o alargamento neste livro. A paz na Europa precisa deste alargamento?
Considero que os alargamentos são, a par da paz, a grande história de sucesso da integração europeia. Com exceção da entrada da Finlândia e da Suécia na NATO, os anteriores alargamentos deram-se todos entrando primeiro na NATO e depois na União Europeia. O caso da Ucrânia é o segundo em que se pode dar o caso desta relação ser invertida.
Os alargamentos, como uma história de sucesso e de expansão da democracia das regras europeias, estabilizaram sistemas políticos pós ditaduras, como é o caso da Europa do Sul, incluindo Portugal.
E depois [incluiram] um conjunto de Estados que já estavam mais ou menos estabilizados do ponto de vista democrático, mas que tinham já eixos comerciais, económicos, etc. E, portanto, a entrada nas comunidades europeias foi um corolário relativamente lógico.
O futuro alargamento a Leste é um caso relativamente particular, porque a Moldova, a Ucrânia e a Geórgia são Estados com ocupação de tropas russas. E, no caso dos Balcãs Ocidentais, os Estados estão na fronteira entre uma aparente estabilidade e uma eclosão da própria arquitetura interna do Estado.
Isto é particularmente relevante, quando há potências externas à Europa que têm uma influência brutal na dinâmica interna dos países dos Balcãs, como é o caso da China, da Rússia ou da própria Turquia.
A lógica dos alargamentos é que as regras comuns se apliquem a estes Estados, que estes cumpram determinados critérios e com isso consigam estabelecer um quadro de estabilidade política e institucional, liberdades alargadas, etc.
Mas não afasta a influência russa, vide caso da Hungria.
Este alargamento traz transformações internas na União, porque a Ucrânia é um Estado muito grande e poderá ser o quinto Estado mais poderoso da União. Isso tem implicações nos fundos comunitários, na ponderação de voto no Conselho da União Europeia e no número de eurodeputados. Isto para além de que o eixo gravitacional da Europa desloca-se mais para Leste. Ninguém sabe que Ucrânia será essa.
No caso das influências externas, passámos provavelmente de uma matriz de expansão da democracia através dos alargamentos para uma contenção da expansão russa através do próximo alargamento.
A lógica já não é meramente ideológica e até económica e de desenvolvimento social, mas vê o alargamento como um instrumento geopolítico.
É importante que o debate seja feito já, e não em cima dos acontecimentos ou da reta final das adesões. Precisamos de preparar os partidos políticos, as populações e as instituições para um processo talvez mais transformador do que alargamentos relativamente acomodatícios, como foram, por exemplo, os alargamentos aos países nórdicos ou ao próprio Reino Unido.
Até mesmo o bloco de 10 países de Leste que entraram em 2004 não é um bloco igual ao que se seguirá do Leste europeu e dos Balcãs. Já tinha outro tipo de estruturas, estava todo ou em parte na Aliança Atlântica. Já tinha um chapéu de segurança diferente. Aqui não há nada disso, há conflitos a acontecer.
O alargamento é uma inevitabilidade, independentemente da evolução da guerra na Ucrânia. A expetativa gerada não pode ser defraudada nem para os Balcãs Ocidentais - que estão nessa fase já com tempo de espera- nem em relação à Ucrânia, porque a nossa forma de estar ao lado da Ucrânia não nos permite recuar no alargamento.
Há aqui uma questão de base, que é a relação da Europa com a própria Rússia. Já foi muito próxima, no início do século, quando até havia um Conselho NATO - Rússia. Hoje em dia é possível termos uma Europa de costas voltadas, simplesmente com um muro não visível com a Rússia, com uma ‘cortina de ferro’ feita pelas próprias fronteiras da Rússia? Qual é a relação que a Europa deve ter com a Rússia?
É uma boa questão, porque ninguém tem verdadeiramente a resposta para ela. A doutrina divide-se nos Estados europeus. Há países do Báltico ou mesmo a Polónia, onde tenho dificuldade em ver, nos próximos ciclos políticos, uma grande vontade de retomar algum tipo de boa convivência com a Rússia. Isso demorará muito mais tempo do que noutros Estados que têm uma política mais pragmática.
Há vários patamares. Há outros países que já gostariam de ter encetado uma melhoria de relações, como é o caso da Hungria e eventualmente da Eslováquia ou Bulgária.
Mas se o alargamento for um pouco ‘anti-Rússia’, cava-se ainda mais este fosso.
Os alargamentos não são anti-ninguém, são pró-democracia. Por exemplo, no caso da da adesão da Finlândia, que tem uma fronteira de 1300 km com a Rússia, não vejo que haja grande inquietação no Kremlin por causa desse alargamento.
Aliás, estabiliza verdadeiramente a fronteira com a Rússia e da Rússia. É uma fronteira de segurança, mas também um benefício para a própria segurança russa.
As fronteiras da NATO com a Rússia são menos de 10% de todo o perímetro territorial do imenso território russo. E são provavelmente as fronteiras mais seguras que a Rússia tem. Portanto, a criação de uma mitologia de expansão das organizações europeias para alterar o regime russo, está provado que nunca aconteceu.
Mais do que a fronteira da NATO, o que ameaça o regime russo é o sucesso das democracias do antigo espaço soviético. Isso é que altera o ADN desse regime, ou seja, o povo russo vê que a democratização de antigos países da esfera soviética beneficia os cidadãos e, com esse espelho, olhará para dentro e verá que as suas liberdades estão cada vez piores.
O regime está cada vez mais autoritário, numa economia de guerra pura e dura, e tem uma falência argumentativa em função de um conjunto de passadas. E isso pode levar a transformações internas no regime. O que amedronta o Kremlin é alterar a sua própria natureza autoritária e ditatorial para aspirações de setores da sociedade noutro tipo de regime.
Estamos sempre a pôr o ónus da responsabilidade desse futuro relacional no lado europeu ou da União Europeia e há muita responsabilidade do lado russo. Foi a Rússia que no dia 24 de Fevereiro de 2022 tomou a opção de tornar tudo aquilo que - em fragilidade, é certo - estava assinado desde o final da Guerra Fria e até antes de acomodação entre os vencedores e os vencidos numa letra morta.
Tudo aquilo que tiver para acontecer para a frente também tem que ter um contributo e uma responsabilidade da Rússia. Devíamos pedir mais responsabilidades ao infrator e não aquele que está em legítima defesa ou a apoiar a legítima defesa.
Identifica 4 dilemas na Europa. A questão da coesão europeia, o epílogo da guerra na Ucrânia, o alinhamento com os Estados Unidos e a gestão da relação com a China e a Índia. Na primeira, levanta a possibilidade da Hungria se radicalizar mais ou de uma ascensão, por exemplo, da extrema-direita ao poder na Alemanha. Mas, por outro lado, constata que a Europa teve uma coesão muito acima da média do que se podia esperar face à trilogia composta pela pandemia, inflação e guerra. O dilema da coesão é talvez o menos gravoso?
Não, acho que é o segredo da história da Europa. É mais fácil ‘coser’ uma coesão a 12, depois a 15. É mais difícil a 30 ou a 36, com a disparidade de interesses e até da própria natureza dos sistemas políticos das sociedades. Portanto, a coesão é verdadeiramente o segredo para a eficácia das políticas comunitárias e para uma convergência de interesses e de denominadores comuns, sobretudo nos processos e nas políticas que exigem a unanimidade.
É preciso mexer nos tratados?
Não parece que esse seja o debate essencial agora. Não sou jurista, mas muitos especialistas apontam para instrumentos que os Tratados prevêem que ainda podem ser utilizados para flexibilizar o processo de decisão.
Mesmo em relação a países como a Hungria, que apesar de tudo, são minoritários, a contestação é muito audível mas, na hora H, todos estão nos pacotes de sanções, que prevêem algumas exceções nomeadamente nas questões energéticas.
Em relação à Ucrânia, estamos a falar de dois governos mais céticos em relação à estratégia. Não me parece que seja significativo. Mais uma vez, talvez estejamos a dar demasiada atenção à Hungria e menos atenção a todos os outros que continuam na mesma passada e na mesma argumentação.
Perante ‘mais Hungrias’, não podemos ser tão permissivos para aplicar aquilo que o Tratado prevê, nomeadamente em relação a violações do Estado de Direito, do articulado dos Tratados da União Europeia e não prever rapidamente as sanções adequadas que os Tratados também prevêem.
Portanto, vamos engrossando ‘monstros’ e temos um eixo a crescer na Hungria, na Eslováquia, na Macedónia do Norte, na Geórgia, na Sérvia. Tudo isto é muito mais pró- Kremlin do que propriamente pró-Bruxelas.
Escreve que, qualquer que seja a orientação do avanço russo, ‘os europeus tenderão a dividir-se sobre eficácia dos apoios dados à Ucrânia, sobre a irreversibilidade da restituição de quase um quarto do território retirado à força e o quadro que suscitar uma negociação com vista a uma paz, mesmo que podre’.
Nós já estamos a atravessar essas tensões, com aqueles que querem apressadamente empurrar as duas partes para uma negociação sem monitorização, sem um mediador credível, sem aquilo estar juridicamente blindado e, portanto, estar mais uma vez ao livre-arbítrio do invasor daqui a 6 meses a um ano, e depois a ceder, como se fossemos o depositário do interesse nacional ucraniano.
Cabe aos ucranianos dizer quando é que é o timing, o modo e os termos da negociação para se sentarem à mesa entre Presidentes, não entre pessoas de segunda linha, pois é essa a negociação que vai contar.
Temos que ter a humildade de a reconhecer que é aos ucranianos que, enquanto Estado invadido, cabe dizer o que é que querem ceder e não ceder, se querem continuar a lutar pelo seu território, pela sua soberania ou não. Não cabe a Portugal ou à Itália. Nós não fomos invadidos.
Mas há poderes de influência, até sobre a Ucrânia.
Claro. E é por isso que há cimeiras. Em Berlim há já para a semana sobre a reconstrução. E é por isso que há uma cimeira com um articulado muito ao encontro das prerrogativas chinesas, mesmo que a China não vá estar presente na Cimeira da Suíça. E isso é uma predisposição ucraniana e não russa.
Ao contrário de uma certa linha de argumentação que vejo aí muito propagandeada, não é propriamente uma disponibilidade permanente da Rússia para fazer o que quer que seja, muito menos em retirar de territórios que já não têm argumentação plausível.
Há a argumentação sobre a proteção de minorias ou da língua. Mas ninguém invade um país porque a sua língua está relativamente em xeque do ponto de vista do sistema educativo. Não é assim que se resolvem os problemas.
No plano A da Rússia, de chegar a Kiev, qual foi a argumentação? A Ucrânia não tem existência formal, nem material, nem identitária? Está provado que isso é uma falácia e, aliás, é paradoxal perante todos os compromissos bilaterais e multilaterais que a Rússia assinou nos últimos 30 anos.
Mas, à porta fechada ou nos corredores, a Europa pode recomendar à Ucrânia que, de certa maneira, flexibilize alguns dos termos para esse acordo de paz. Uma das questões centrais é sempre a questão da restituição ou não do Donbass, que está sob controlo russo, já nem falando da Crimeia.
Há Estados que já estão a fazer isso. E há setores da sociedade ucraniana, que também são favoráveis a uma maior flexibilidade nesse sentido.
Sem que isso seja visto em Kiev como uma derrota?
Cabe às autoridades ucranianas fazerem a avaliação interna e externa sobre o momento e os interesses que estão disponíveis para abdicar. Não cabe a Portugal, a Espanha, a França. Cada governo pode fazer a influência que quiser, mesmo os norte- americanos.
Temos um quadro de violação grosseira do direito Internacional e do direito humanitário. Temos uma razia de cidades inteiras sem instalações militares. Temos a segurança Nuclear em xeque, a segurança alimentar em xeque, com repercussões no Médio Oriente e no Mediterrâneo. Temos um violador de tudo isto, que não pode sair beneficiado no final desta história.
A história que se desenhará daqui para a frente tem que ter pelo menos um equilíbrio de forças à mesa negocial. Não pode ter um desequilíbrio tal que as regras da segurança europeia sejam ditadas pelo invasor e não por nós.
Este é o factor que merece alguma ponderação, sobretudo nas cabeças de toda a gente que quer apressadamente ir para um processo neste momento desfavorável à Ucrânia e negligente do ponto de vista dos interesses futuros europeus no seu conjunto.
Sublinha a importância da China e dos Estados Unidos como chave para este desenlace.
Temos um exemplo prático na Suíça, na Cimeira, daqui a menos de 2 semanas. Os Estados Unidos são fundamentais do ponto de vista material, mas estão a atravessar um ciclo político que ninguém sabe como é que acabará e o que é que gerará daí para a frente. Portanto, o calendário é apertado para o interesse ucraniano e também, já agora, para o interesse europeu.
Independentemente dos ciclos políticos norte-americanos que vão ser certamente mais imprevisíveis, os europeus têm que fazer mais ‘o nosso trabalho de casa’. Em último caso, é a segurança europeia, a saúde das nossas democracias e o futuro destas que está em causa.
Não vamos poder continuar a pedir e a ficar totalmente vulneráveis à disponibilidade, e ao interesse nacional medido e providenciado pelos Estados Unidos.
Não quero partir a relação transatlântica. Sou um transatlântico convicto, mas, antes disso, sou um europeísta convicto. E valorizo o quadro das nossas democracias, até porque acho que não há União Europeia sem democracia.
Do ponto de vista da China, temos que privilegiar um eixo estratégico de longo prazo, que é ‘partir a relação’, no que é possível, entre a China e a Rússia. Para isso, temos que apresentar à China um conjunto de eixos de interesse comum connosco, que passam por aquilo que está presente na Cimeira da Suíça.
São a segurança nuclear - e a Ucrânia é particularmente vulnerável a isso - a segurança alimentar – que tem implicações na inflação, na segurança do Cáucaso e do Médio Oriente e do Mediterrâneo- e, em terceiro lugar, a recuperação de prisioneiros, crianças e civis. Tudo isto está nos 12 pontos do plano de Xi Jinping. É para mim da mais elementar convicção que a China não poderia estar ausente numa cimeira com estes pontos.
O Presidente dos Estados Unidos está ausente por outras razões, mas a China está ausente, porque não quer transmitir um sinal neste momento de que há um fator construtivo para a paz em detrimento da relação bilateral que tem com a Rússia e que é muito vantajosa para si. E isso tem um preço, porque a sua responsabilidade e a sua palavra internacionalmente saem manchadas.
Não se pode apresentar 12 pontos, com o Presidente Zelensky a vir para o tiro de partida de um projeto negocial - mesmo que minimalista a 3 pontos - que vai ao encontro dos pontos chineses e depois a China tirar o tapete. Isto não é sério.
É por isso que o Presidente Zelensky tem sido duro com os Presidentes americano e chinês. Isso vai implicar, a meu ver, uma diplomacia bilateral da Ucrânia muito presente nestes dois tabuleiros.
Tem que ser no curto prazo, porque à medida que a campanha acelerar nos Estados Unidos fica mais difícil, até porque, como já assistimos, os Estados Unidos estão disponíveis para tornar a relação com a China mais áspera do ponto de vista das tarifas aduaneiras. Isso cria mais dificuldades a um concerto de posições que seja do interesse europeu.
Sugere uma garantia de segurança que pode ser prestada à Ucrânia, como os Estados Unidos têm em relação a Israel. Seria uma garantia europeia?
São todos os acordos bilaterais que o Presidente Zelensky tem assinado, de várias naturezas e em função do que os Estados podem disponibilizar. A visita do Presidente ucraniano a Portugal foi um pouco isso, mas há Estados que estarão na disponibilidade - e os Estados Unidos aí são o paradigma - de ter uma atuação, não ao abrigo de uma espécie de artigo V (defesa mútua) bilateral, mas de dotar a segurança ucraniana do mesmo tipo de disponibilidade imediata com que Israel conta com os Estados Unidos.
É contornar os problemas em relação à NATO?
Em parte, é contornar esse hiato, mas o Presidente Zelensky tem dito, e bem a meu ver, que o escudo que os Estados Unidos providenciaram a Israel e que está na base da sua segurança - nomeadamente antimíssil como vimos com os ataques do Irão - podia ser uma boa fórmula de proteção sobre algumas cidades e sobre algumas regiões. Claro que isto envolve investimentos muito grandes e as expectativas não são muito alinhadas.
A partir do momento em que Israel demonstrou essa capacidade, o Presidente ucraniano foi atrás dessa segurança providenciada pelos Estados Unidos. Acho que o ambiente político americano não está virado para aí e, portanto, mais uma vez, o calendário eleitoral não favorece esse tipo de compromissos. Mas cabe ao Presidente ucraniano ir à procura dessas salvaguardas em função do tempo de demora da chegada de material de defesa antiaéreo.
Esse é o ponto em que estamos e que vai calendarizar a correlação de forças numa negociação. Se se parte para uma negociação mais ou menos com tudo cristalizado no terreno, o processo fica mais igualitário e, portanto, as cedências serão menores.
Com uma ponderação de forças diferente, quem está melhor poderá, à partida, condicionar mais a negociação. E é isso que as duas partes querem.
Putin também já mede a própria sustentabilidade a longo prazo de uma economia de guerra, do número avassalador de mortes no terreno, muito superior ao que teve em 10 anos de guerra do Afeganistão nos anos 80 e que levou, aliás, ao colapso da União Soviética.
Isto não é uma história encerrada à partida, nem só de acordo com os termos do invasor, nem pode ser assim.
.png)




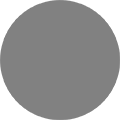 category-label-
category-label- 







