Desta vez, caso a situação se agrave, todos seremos derrotados e derretidos no mesmo braseiro atómico.
1. Estávamos, já depois do jantar, a conversar descontraidamente sobre tudo e coisa nenhuma, como é próprio de amigos de longa data, que mesmo calados, são eloquentes.
De súbito, no ecrã da televisão, em má ainda hora ligada, um locutor comunicou-nos que, tal como a França anunciara, também o Reino Unido se preparava para enviar soldados combater na Ucrânia, caso esta começasse a perder a guerra que a Rússia com ela trava.
Ainda mal refeitos de tão inacreditável notícia e do que ela significa, o mesmo locutor comunicou-nos, depois, com a mesma impassibilidade seráfica, que o governo russo, em resposta a tais anúncios, advertira que isso indicaria, fatalmente, a guerra com a NATO.
Terá dito, ainda – o que é mais grave – que, se assim fosse, o seu país não se coibiria de usar armas nucleares táticas, considerando-se autorizado a, com elas, alvejar e destruir qualquer objetivo britânico de onde a Rússia fosse ameaçada.
Entretanto, e como se fosse para comprovar tais vaticínios, vimos na TV imagens da visita do inefável e sempre atarefado Secretário-geral da NATO a Kiev.
Durante uns minutos, quedámo-nos calados e, quando íamos começar a discorrer sobre tão aterradoras notícias, fomos atingidos, ainda, pelos comentários empolgados de uma comentadora – militar de biblioteca – que, com a maior naturalidade, começou a desenhar o que, no seu entender, seriam os possíveis cenários de tal guerra, como se a opção nuclear neles não estivesse prevista.
Falava de canhões e falta de munições, de drones e mísseis, de sistemas antiaéreos e de aviões inexistentes e que se aguardavam, de helicópteros abatidos, de blindados e de trincheiras, muitas trincheiras nas linhas de defesa ucranianas: de guerra atómica, nada.
Falou, ainda, de recrutamento e da possível renovação do serviço militar obrigatório nos países do Ocidente.
Omitia, porém, que a Rússia é uma potência nuclear e que, por o ser, não pode – todos sabemos, menos os que não querem saber – ser derrotada por uma outra potência militar nuclear como é a NATO.
Ou melhor, até pode ser derrotada, mas só arrastando consigo os seus adversários, o que significaria a destruição mútua, quase certa, de uma significativa parte da humanidade e do mundo tal como o conhecemos hoje.
Acresce que, se a Rússia não tem tido força suficiente para, nas condições atuais, que lhe são favoráveis, derrotar facilmente a Ucrânia, não parece fazer muito sentido a ideia propalada pelos media ocidentais, e por alguns comentadores de secretaria, de que aquele país se prepararia para atacar toda a Europa.
Por isso, quase de imediato, e sem concerto prévio, berrámos, praticamente em uníssono: «esta sujeita está doida, estes tipos estão loucos!»
2. Ficámos, depois, a divagar, noite fora, sobre a insensatez das decisões, ameaças e comentários pró-guerra que nos últimos dias íamos ouvindo, em crescendo contínuo, nos nossos media, sem que uma voz mais lúcida e respeitada alertasse para o perigo desta escalada.
Espantava a todos a inexistência de uma dúvida sequer, de uma hesitação teatralizada que fosse, ou, mesmo, de um grito indignado sobre o tom guerreiro que cresce, alimentado nos media, pelos governantes dos diferentes países já envolvidos, direta ou indiretamente, no conflito.
Visivelmente incomodados, ouvimos, quase de seguida, ainda, os dictats do primeiro ministro de Israel acerca do ataque a Rafah e, assim, o seu propósito evidente de riscar de Gaza os palestinianos que sobrassem, apesar de os não menos tenebrosos líderes do Hamas terem, como foi noticiado, concordado já com as condições impostas por aquele país, para se iniciar um cessar-fogo.
Com a continuação de tal chacina – que parece certa – se afogaria e pagaria em sangue, com mais umas dezenas de milhares de mortos e feridos – homens, mulheres, velhos e crianças – o dramático ataque terrorista que, meses antes, ceifara vida de umas largas centenas israelitas vivendo perto da fronteira de Gaza.
Não é a proporção da vingança que choca, é, além dela, a barbaridade como foi e segue sendo, sistemática e cruelmente, executada a exterminação de todo um povo.
Quando, porém, a este massacre se referia, o locutor baixava de tom de voz: os israelitas são nossos aliados e, no mercado dos valores e dos princípios humanitários do Ocidente, a valia de uma vida palestiniana residente, ou não, em Gaza continua a ser pouco, muito pouco mesmo, cotada.
Fomos, ainda, informados de que, apesar da condenação pelos EUA – apenas para memória futura – dos crimes contra a humanidade, continuada e indesculpavelmente, cometidos por Israel, os norte-americanos manteriam a sua aliança com tal país, mesmo que, de momento, suspendessem – eleições obligent – o abastecimento de bombas e de outras munições.
As manifestações, afinal, sempre podem produzir resultados.
Quase sem interrupções, o referido locutor noticiou combates no Sahel entre tropas russas e organizações terroristas fundamentalistas de inspiração jihadista, informando, ainda, que S. Tomé e a Guiné-Bissau optaram, também, por tal fornecedor de armas e apoio militar.
Tais tropas, terão substituído, em África, o anterior ajuda das – pelos vistos, menos eficientes – forças militares francesas às autoridades dos países dessa região.
Como não bastasse, ouvimos, ainda, da boca do locutor, a notícia sobre os desafios no Mar da China entre as forças militares deste país e as forças do regime de Taiwan e vimos desfilar, «impante», o mais moderno porta-aviões chinês.
Por fim, fomos, ainda, esclarecidos, sem nenhum relevo noticioso, que o Papa repetira, em Roma, que tudo indica estarmos a assistir aos preliminares da terceira guerra mundial, pelo que urge, para a evitar, parar os combates a ocorrer um pouco por todo o mundo.
3. O nosso serão, antes, sonolento transformou-se, rapidamente, então, numa peroração sobreposta e algo excitada sobre a História e as semelhanças que a situação atual tem com as que ocorreram antes e durante a Grande Guerra (1914-18).
Nessa época, enfrentaram-se também as grandes potências da altura: o império germânico e o austríaco, os impérios coloniais britânico e francês, o império russo e o otomano, o recém-aparecido império japonês e os poderosos EUA e, até, imagine-se, o pobre império colonial português.
No início de tal guerra, não havia, entre os beligerantes – como agora, também, acontece – nenhuma contradição entre os seus sistemas económicos, ou, verdadeiramente, alguma antinomia entre os modelos político-sociais de cada um desses países: todos viviam e vivem em economias capitalistas, mais ou menos, financeira e industrialmente, desenvolvidas ou em vias de crescimento, uns com sistemas de governo mais autocráticos, outros menos.
Tal guerra teve, pois, como principal razão a emergência de novas potências económicas, o declínio de outras, e a vontade de todas de se apossarem das riquezas do mundo, designadamente das que se situavam nos países vizinhos e nas colónias que alguns destes possuíam em outros continentes.
Do ponto de vista ideológico – tirando o facto de a França, a Grã-Bretanha e os EUA serem governados, então, por sistemas algo mais democráticos – muito pouco, além do apetite pelo domínio económico do mundo, separava, pois, os contendores.
Na Alemanha – espanto! – o governo de guerra integrava mesmo o poderoso Partido Social-Democrata.
Tal partido (operário), para justificar a mudança súbita da sua posição sobre o conflito, que passou a apoiar, chegou mesmo a fundamentar – nas palavras de Kaustsky, o seu teórico e, então, principal dirigente – a emergência da revolução russa e o derrube do regime czarista como resultante, apenas, da ajuda internacionalista das «baionetas alemãs em punhos alemães».
Tudo, hoje, parece, na verdade, assemelhar-se àqueles tempos; o regime económico é comum e até a abertura de quilómetros de trincheiras como barreira à penetração das forças inimigas parece ter ressurgido desses tempos.
Não aconteceu, porém, até hoje, um socialista como Jean Jaurès, assassinado por, precisamente, se opor, corajosa e frontalmente, em França, à guerra que se avizinhava.
«Onde estão os socialistas de outrora?» – perguntava indignado, e algo humilhado, um de nós mais próximo de tais ideais e filiações.
O serão prosseguiu mais excitado, ruidoso e polémico do que começara, até que um dos presentes proclamou, subitamente iluminado, mas conquistando o quase total acordo de todos, que, face à situação mundial: «hoje, o maior desafio político da humanidade é o da luta pela paz!»
É verdade, repisámos deslumbrados todos nós com o que se revelou ser, de repente, uma evidência geral.
Parece anedótico e até contraditório, mas, visto bem, não é: aquele nosso amigo acabara apenas de, também ele, «descobrir a pólvora».
Um produto menos poderoso, é certo, do que a dinamite, sendo que este último, pelo seu poder de destruição então inigualável, deu origem, na Suécia, à instituição, pelo seu inventor, do prémio Nobel da Paz.
A iniciativa generosa de tal prémio não evitou, contudo, que o seu país, durante tanto tempo neutral e pacifista, passasse a integrar militarmente, agora, a poderosa e aguerrida NATO.
O grave – dizia um de nós, que é ateu – é que, tirando o Papa e o Secretário-Geral das Nações Unidas, ambos católicos –nenhum dirigente político mundial de relevo parece ter entendido, verdadeiramente, a velocidade a que arde o rastilho que conduz à guerra e que ameaça já tornar a Terra num braseiro.
Um forte movimento pela paz – pela paz no mundo – e não apenas o que, justamente indignado, se pronuncia, hoje, nas universidades de muitos continentes, em relação ao horror quotidiano que sucede na faixa de Gaza, tem, pois, de ser organizado e com urgência; concluímos todos, já tarde, mas por unanimidade.
Os vendedores de armas, os compradores de energia barata, os seus irresponsáveis representantes políticos a nível nacional, europeu e internacional, não podem continuar a empurrar, docemente, toda a Humanidade para uma guerra mundial, mesmo que, por ora, compartimentada em fascículos só aparentemente independentes e travada, por empreitada, por povos destroçados e que nada lucram com ela.
A continuar assim, amanhã, queiramos, ou não, todos estaremos envolvidos na malfadada guerra e não será com o tão saudado regresso ao serviço militar obrigatório que se evitará uma derrota geral protagonizada pelo uso comum de armas nucleares; desta vez, caso a situação se agrave, todos seremos derrotados – e derretidos – no braseiro atómico, que uns ameaçam desencadear e outros, mais em surdina, também já preparam.
Todos, pois, a gritar por «Paz, já! Paz agora!»
PS: por lapso, no artigo anteriormente publicado, citei em vez da lei adequada – a Lei n.º 68/2019, de 27 de agosto – uma outra lei que embora relacionada não era adequada à citação: problemas de corte e colagem rápidas de mais. Por tal facto peço desculpa a todos e principalmente aos leitores.

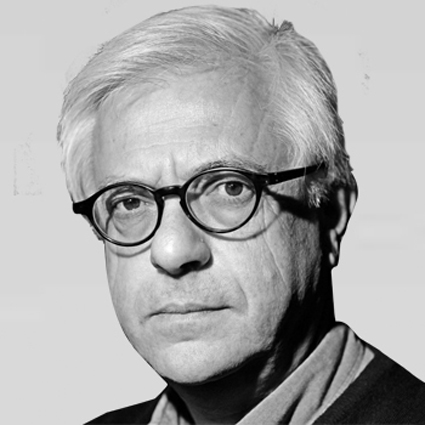

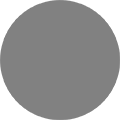 category-label-
category-label- 







