Luís Bernardo Honwana escreveu este livro de contos em 1964, quando tinha apenas 22 anos, e Moçambique estava ainda submetida à administração portuguesa, sendo patente uma estratégia de expressão anticolonialista, servindo-se da língua do invasor para denunciar a invasão.
Num tempo inflamado por ideias de restituição e lugares da fala, talvez fosse de considerar o trânsito histórico das línguas, e o modo feliz como entorta a literatura. Não completando a computação do que haja a perdoar ou a devolver, o contributo dos inventos narrativos desenhará sempre uma forma de unir afastamentos, nem que seja por adicionar à História uma mistura confusa e fértil de contradições. Do passado colonial que relacionou Portugal com os países africanos divergiram autonomias literárias, em que a vontade de reconstrução identitária por meio da língua se misturou muitas vezes a uma urgência colectiva, de dimensão política. É um modo de evolução paradoxal, este em que se viram envolvidos tantos países africanos, quando ao procurarem a independência, no momento em que precisam de se ver ao espelho para reexistirem, descobrem em mãos uma multiplicidade de falas e etnias e uma única forma rápida de as unir numa frente perceptível ao exterior – a língua da potência colonizadora, cujo eco permanece, mesmo que transformado, tanto na oficialidade quanto de cada vez que se pretende reutilizar as formas literárias europeias.
Nós matamos o cão tinhoso, recentemente reeditado entre nós, exemplo clássico da literatura africana (e objecto de múltiplas traduções) tanto quanto caso paradigmático das formas de expressão anticolonialista, cai dentro do grupo em que predomina a atenção aos modos sociais e é tão mais interessante quanto não se coíbe de usar a língua do invasor para combater a invasão. Em 1964, quando este livro de contos foi publicado, Moçambique era um território sob administração exógena e com necessidade de revelar as marcas de uma imposição. Luís Bernardo Honwana, dedicado então a uma carreira de jornalista em Lourenço Marques (hoje Maputo), escreve-o com apenas vinte e dois anos, para falar, como diz na nota à primeira edição, “sobre coisas que, acontecendo à minha volta, se relacionem intimamente comigo ou traduzam factos que me pareçam decentes”, dando testemunho de uma “uma série de situações e procedimentos que talvez interesse conhecer”. O projecto, de ambição aparentemente humilde, foi apoiado por intelectuais moçambicanos credenciados, como Craveirinha e Knopfli, e não estava dissociado do activismo político que o autor prosseguiu dentro dos movimentos de independência do país, sublevações que acabariam por valer a apreensão pela PIDE da obra e a detenção de Honwana durante três anos, por actividades subversivas contra o estado português.
“Não sei se realmente sou escritor” refere o autor na nota, e talvez faça sentido perceber na hesitação o gesto de quem via nestas narrativas um dos muitos modos de intervenção social, mais do que o evento negociador de um espaço na história da literatura: a verdade é que não encontramos no seu percurso, sempre ligado à cultura e à política, segunda tentativa de regressar aos terrenos da escrita ficcional. O estilo facial do livro não desmerece desta abordagem desassombrada do autor à sua única obra literária. A linguagem é escorreita, sem tentações claras de modernidade nem rearranjos importantes no português herdado, excepto no vocabulário, semeado de termos convocados das línguas originais de Moçambique (explicados em apêndice no final desta edição, incluem machamba, que é terreno agrícola em suaíli, ou nhinguitimo, vento sul cuja chegada demarca o tempo das colheitas). Não há mal-entendidos nestas doze histórias, cada narrativa tem uma intenção clara no modo como aponta atritos, antagonismos e injustiças. Nós matamos o cão tinhoso é talvez o conto mais conseguido, porque menos literal, alegórico e ao mesmo tempo torcendo uma tensão que é toda denotativa. Um grupo de crianças, no qual se inclui o narrador, é incumbido pelo veterinário da terra de abater um cão vadio e doente que se passeia sem pejo pelas ruas da povoação. Entre hesitações, medos, arrependimentos morais e pena, o abate do animal reúne as pressões raciais retidas em cada um dos intervenientes da caçada (expulsas em incitamentos e insultos que incluem “Preto de merda!”, “Maricas!” e “Monhé de um raio”), acabando por resolver-se numa espécie de execução colectiva onde a culpa tenta, como sempre, morrer solteira. A velhota, crónica de um derrotado à procura de reconstruir a esperança que lhe permita um módico de amor-próprio, começa no final de uma briga, contada pelo narrador em contrapicado, desde o chão, com os socos a caírem do alto, desferidos por uma entidade tão mais indefinida quanto parece colectiva: “Primeiro senti-me quase bem no chão, embora o eco continuasse a encher-me a cabeça. Quando abri os olhos veio o zumbido e senti raiva de mim mesmo por ter caído. O eco atrapalhava-me a vista a tal ponto que não tinha a certeza do que via, mas depois, quando a minha vista deixou de tremer, vi as duas pernas vestidas de escuro, que, nascidas uma de cada lado do meu corpo cresciam longamente para cima, tesas e tensas, convergindo para a placa de metal brilhante do cinto. Por cima delas, lá em cima, perto da lâmpada do tecto, a cara fitava-me, atenta, sorrindo satisfeita. Voltei a fechar os olhos. […] Só voltei a abrir os olhos quando tive a certeza de que o tipo já se tinha ido embora, farto de provar aos outros que realmente me batera”.
Nhinguitimo é a história de Vírgula Oito, um trabalhador das machambas, roubado das suas esperanças de autonomia pelo administrador colonial. Não sendo talvez a narrativa mais perfeita do livro, é a que mais directamente demonstra a estranha volta histórica das línguas. A cena central decorre na mercearia da terra, onde acodem os trabalhadores que dão mão-de-obra às propriedades, e os portugueses com negócios na zona, conciliados a tentar gerir as suas pretensões junto do poder. O narrador é, como em vários outros contos, um adolescente exterior à história, que se expressa num português não muito afastado da origem (alguém que identificamos sem dificuldades com o autor, de cuja biografia talvez importe saber, para o que tentamos transmitir, ser filho de um intérprete). A perspectiva oscila entre duas visões afastadas, a de Vírgula Oito, apostado em expandir a machamba que lhe pertence e ainda não foi tomada pela administração colonial, e a do representante local do governo luso. Os sonhos de Vírgula Oito são tão claros quanto a origem do seu nome permanecerá por explicar: “Quando chegar o nhinguitimo tudo vai mudar – dissera ele. – As machambas grandes que eles fazem vão ficar destruídas pela fúria do vento. As nossas machambas continuarão a amarelecer calmamente porque as grandes árvores do outro lado do rio protegem-nas contras os ventos. O preço do milho vai subir e nós vamos ter algum dinheiro. Deus tem de querer que seja assim.” Somos de início informados de que os trabalhadores comunicam em suazi e changana, mas é só quando o negro da machamba é questionado pelo administrador (“Machamba lá no Goana é produtiva? Raios… Produtiva não!… É bom?… Machamba no Goana é bom?… Jesus, isto só com o intérprete, lá na administração… […] Ouve lá, tu tiras muito milho lá da tua machamba?”), que nos apercebemos quanto separa as línguas em que originariamente falavam os oponentes. Porque Vírgula Oito, que líamos em português embora falasse noutra língua (numa toada própria, pessoal e escorreita como todos os discursos vivos), passa a usar a fala do administrador:
“– Cada vez tira, cada vez não tira, senhor Mixadoro.
– O que é que estás para aí a dizer, homem?
– Eu diz que tira, sinhoro Comandante…
O administrador conteve o riso que lhe provocara o novo tratamento.
– A terra é boa?
Virgula Oito percebera a rápida sombra que perpassou pelo olhar do administrador quando o tratara por comandante:
– Terra é bom, sinhoro Mixadoro…
– A terra é boa? – berrou novamente o administrador, irritado com a perspicácia do trabalhador.
Vírgula Oito demorou a resposta, indeciso:
– Terra é bom, sinhoro Comandante… – todo o corpo de Vírgula Oito oscilou, sublinhando a afirmação.
Perante o silêncio do interlocutor, Vírgula Oito optou:
– Terra é bom… – e aguardou o efeito da nova fórmula, apertando as mãos ao peito.”
O diálogo termina numa gargalhada geral, que ecoa tensa entre os espectadores: o português que lemos é amputado, risível para os portugueses que o escutam como para o leitor do conto – mas este, porque ciente da outra visão narrativa, não pode deixar de perceber os erros como o resultado da dificuldade em abandonar uma língua própria para se fazer entender num idioma imposto. Já suspeitando de que o interrogatório fosse servir para prejudicá-lo, Vírgula Oito comentará com os amigos: “Vocês sabem… Eu não sei falar como o intérprete ou como o enfermeiro, eu não sei falar bem a língua deles, mas vi que o Mixadoro não gosta de ver que as pessoas sabem o que ele pensa.” A angústia verbal presente em Nhinguitimo prenuncia, ler-se-á no fim do conto, toda uma muda violência de actos, assim como o tempo do livro antecipa e incorpora o tempo da guerra que se anunciava. A marcar o sismo fica o testemunho literário de Honwana, este jogo de representar várias línguas por uma comum expressão torcida em ângulos: prova de recursos narrativos, sim, mas sobretudo o gesto que nos transmite a imediata percepção do esforço necessário para chega ao outro, e à fala que o define. E se a literatura não for isto, não poderá ser outra coisa.

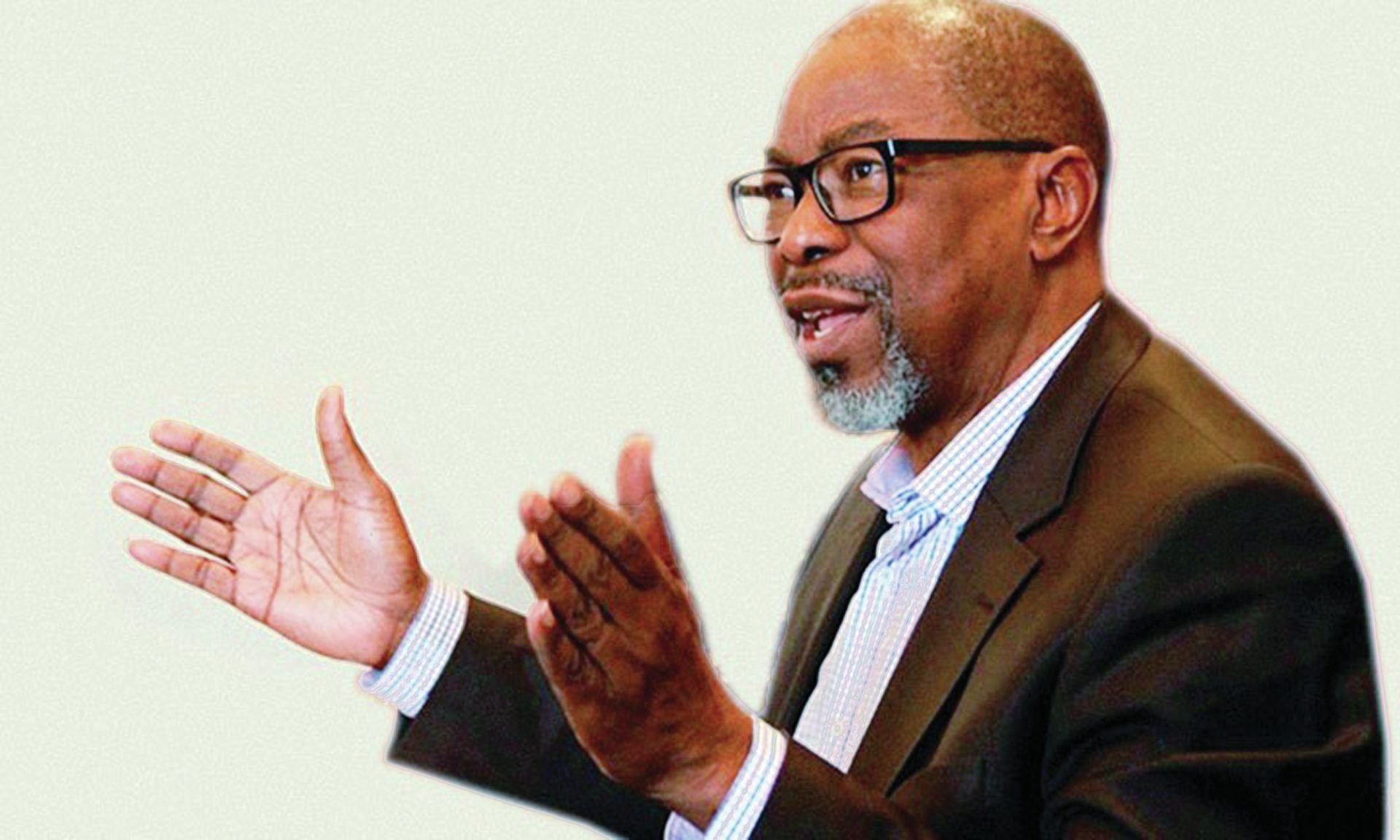

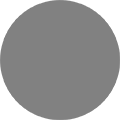 category-label-
category-label- 







