A tarde ia correndo com a certeza extraordinária de que a morte não existia e de que ficaríamos ali até ao fim do mundo
HAMBURGO – À medida que o Tempo passa dou por mim a olhar cada vez mais para trás e a lembrar-me de coisas já esquecidas e de outras de que me vou esquecendo de ir lembrando ou que me vou lembrando de ir esquecendo, para o caso pouco importa. Por alturas da Páscoa, por exemplo, quando a infinita bondade da Natureza resolvia desenrolar-nos ao longo do dia fiozinhos entretecidos de calores de Primaveras, recordo-me de esperarmos ansiosos pelo fim dos almoços de família e por aquele momento mágico de decisões em que os adultos desatarraxavam os sobretudos do bengaleiro da entrada e desciam por meia-hora – depois de acompanharem o meu avô Joaquim nas voltinhas angulares dos quarteirões a tomar a bica no Café Ruacaná e a rebica no Meu Café, do lado oposto do Jardim da Parada onde a Maria da Fonte continua de foice erguida a ameaçar a placidez dos patos mergulhados no charco – ao rés-do-chão das infâncias para, no quadrado desacertado de relva que ficava em frente da igreja de Santo Condestável, perderem a sua majestade de doutores e engenheiros e se regalarem com a aplicação matemática das biqueiras dos sapatos na bola de borracha grossa de gomos verdes e azuis-escuros – talvez daquelas que saíam nos furos dos chocolates quando a sovela fazia rolar para a janelinha de vidro da caixa trapezoidal a bolinha dourada de uma sorte encantadora – a marcar golos na baliza improvisada entre os troncos paralelos de duas oliveiras que, para aí uma dezenas de anos antes, algum cantoneiro municipal da Câmara ali plantara de propósito a pensar amável e precisamente em nós e nas nossas necessidades futuras de pontapés.
Tenho a impressão de que nesse Tempo éramos, como dizia Torga, «Eva antes da tentação, longe ainda do Adão e ainda mais longe da serpente». Mas não estou certo, não vou jurá-lo por maior que seja a vontade da prosa, a existência não me tem dado assim tantas seguranças, deixemos a memória pairar tranquila por sobre esse lugar vago onde, um dia qualquer, fomos meninos.
Ouço ainda a voz do meu tio Óscar a acicatar-nos em lances incompletos:
– Ainda mexe! Ainda mexe!
A bola de borracha grossa e gomos verdes e azuis-escuros da esquerda para a direita numa incontrolável velocidade de minutos que voam, eu num mimetismo desastrado de Jairzinho (não sei porquê, gostava de ser sempre o Jairzinho) a ensaiar remates mortíferos por entre os troncos das oliveiras, o meu tio definitivo na sentença universal dos golos:
– Já lá mora!
E os gomos verdes e azuis-escuros rolavam para lá das linhas finais do buxo e se refugiavam no sossego sombrio que ficava por debaixo dos automóveis estacionados em espinha na Rua Francisco Metrass. A tarde ia correndo devagar, havia uma sensação indescritível de que duraria para sempre e essa certeza extraordinária de que a morte não existe e de que todos nós continuaríamos por ali até ao fim do mundo, num quadrado desacertado de relva em frente à igreja de Santo Contestável, sem que nada nem ninguém fosse alguma vez capaz de impedir a alegria infantil e saltitante de uma bola de borracha de gomos verdes e azuis-escuros arrancada pela força de uma bolinha dourada da sua exposição amarrada a elásticos num cartão dependurado para lá do balcão de uma mercearia de bairro.
Como todos os miúdos de todos os tempos e de todos os lugares, absorvemos rapidamente o tique dos adultos como se fossem pingos de tinta num mata-borrão. Em Águeda (quando era Setembro e Águeda cheirava a rio e a tanta e tanta coisa impossível de definir e não existe mais e a vida parecia ter as janelas abertas por onde entrava a frescura de uma brisa do fim das tardes de Verão) exibíamos aos gritos a importância de uma autoridade:
– Ainda mexe! Ainda mexe!
A cada lance incompleto dos jogos disputados no adro com balizas acanhadas de montículos de pedras (uma do lado do cemitério; a outra do lado do cruzeiro, a espreitar a Borralha) obrigados a mudar aos cinco mesmo que nunca chegassem a acabar aos dez e decidíamos sem recursos:
– Já lá mora!
sempre que a bola desta vez de plástico roxo (talvez daquelas que saíam nos furos dos chocolates com a bolinha vermelha ou amarela, já que a preta só dava direito aos quadradinhos de Comacompão ou aos entraçados finos da Regina) ganhava efeitos mágicos de Jairzinho, às vezes também de encontro às portas de madeira do CEFAS a cuja janela podia, a qualquer momento, entornar-se o padre Carvalhais agarrado ao breviário das repreensões a reclamar que os golos lhe interrompiam as aulas de catequese. O sol dependurado lá em cima a fazer-nos picar de calores nos agrafos castanhos das camisolas interiores de lã; as solas dos sapatos gastas no alcatrão da rua pela qual passava um carro de hora a hora; o odor ácido que vertia dos panelões de marmelo cozido a arrefecerem no parapeito da janela da cozinha numa promessa outonal de marmelada; o retouçar preguiçoso dos porcos da Rosa da Deia no fundo do jardim numa avidez de lavagem; a sombra convidativa da nespereira que tinha uma mesa enrolada em redor do tronco grosso; um lento rodar universal de dias sem regresso, por mais longas que sejam as horas das esperas.
Fico à escuta. Pode muito bem ser que, de repente, lá do fundo do que fui, uma voz grite:
– Já lá mora!,
e um pontapé certeiro em aritméticas de Jairzinho me devolva a bola de gomos verdes e azuis-escuros por entre os estilhaços da vidraça da memória.



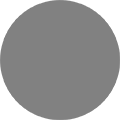 category-label-
category-label- 







