Os despachos e decisões dos magistrados estão hoje recheados de citações de doutrina e jurisprudência; elas não visam, em rigor, justificar a decisão, visam, sim, justificar quem a tomou.
1. Para que duas pessoas se possam entender é necessário que falem a mesma língua ou, pelo menos, que compreendam a língua uma da outra.
É, ainda, importante reconhecer que, quando em conversa, se fala de uma só realidade – mesmo que usando a mesma língua – nem sempre é possível identificar com precisão os seus contornos e o significado que ela tem para ambos os interlocutores.
Lawrence Durrell, em “O Quarteto de Alexandria”, mostrou-o com evidente mestria, ao contar a mesma estória lida por quatro personagens distintas, o que resultou, afinal, em quatro outros diferentes romances.
A maneira como se estrutura uma conversa denota bem, além disso, a vontade que há, ou não, de, sobre o mesmo assunto, os interlocutores encontrarem um entendimento.
2. Li, recentemente, uma novela de Erri de Luca intitulada “Mikado” que fala, também, do esforço de um velho e solitário relojoeiro italiano, amante do campismo selvagem e de uma jovem cigana fugida do seu acampamento para se fazerem entender.
Encontraram-se, por mero acaso, na montanha em que ele acampava e ela se refugiara, proveniente da Eslovénia.
As conversas entre eles partiam de mundividências totalmente distintas e, portanto, apesar de os dois falarem italiano, havia um fosso quase intransponível na maneira como abordavam e, para si mesmos, entendiam a realidade.
Com o passar dos dias, o relojoeiro e a cigana começaram a convergir na compreensão de algumas situações que iam vivendo juntos.
Em outras, toda a sua maneira de ler o mundo levava-os a reações absolutamente distintas e mesmo irreconciliáveis.
Erri de Luca escrevera já sobre um tema idêntico – a gramática da Justiça e a sua leitura por outros cidadãos com uma cultura com fundamentos diferentes – uma notável novela intitulada “Impossibile”, de que já aqui falei.
3. A atual dissonância das leituras feitas por cidadãos não juristas, subscritores de um manifesto sobre o deficiente funcionamento da Justiça, e a dos magistrados e outros juristas, alguns dos quais subscreveram o dito documento, torna tal livro especialmente atual.
Tal desentendimento não se situa exatamente na conclusão, que todos perfilham – o deficiente funcionamento da Justiça e do MP –, antes radica na abordagem que uns e outros fazem das responsabilidades de quem o gerou e quais os objetivos que, com tal manifesto, se pretende alcançar.
As preocupações de que, a esse propósito, expressam têm-se revelado diferentes, o que pode significar que a ideia de mau funcionamento da Justiça não se traduz para todos eles na mesma realidade.
O que para uns constitui um necessário esforço exigível de eficácia, dentro do que a lei permite para atingir uma verdade processualmente válida, é lido pelos outros como uma violência desnecessária e desproporcional, e por isso legalmente exorbitante, em relação à importância dos factos e das ações das pessoas a investigar.
E, no entanto, todos têm, aparentemente, como código comum de legitimação das suas leituras da realidade sob investigação a Constituição, o Direito europeu e os tratados e cartas internacionais sobre direitos, liberdades e garantias.
4. Em “Impossibile”, Erri de Luca descrevera já como era impraticável a aproximação a uma realidade comum por via do diálogo entre um procurador e um ex-militante revolucionário, investigado por um suposto homicídio de um antigo camarada.
O ex-militante revolucionário, por o ser e se encontrar na mesma altura a escalar a montanha onde um outro alpinista morrera de uma queda, passou, de imediato, para a procurador que dirigia a investigação, a ser o principal suspeito de um crime de homicídio.
É que a vítima era, também, um ex-militante revolucionário, que se tornou, depois, num arrependido e colaborador das autoridades judiciais.
Nenhuma outra prova palpável, além das coincidências referidas, existia de que fosse o primeiro o autor do suposto crime.
O interrogatório do suspeito, entretanto detido, passou, pois, a ser fundamental para o procurador que dirigia o inquérito criminal: só através dele seria possível alcançar o caminho para a obtenção de elementos de prova necessários à inculpação formal do suspeito.
Este, porém, não facilitou, não confirmando, mas também não negando explicitamente, a sua participação na morte do seu ex-camarada.
O interrogatório, apesar da perspicácia do procurador e da sabedoria política do suspeito esbarrava, pois, nos diferentes valores e nas diferentes legitimidades de que cada um se reivindicava.
Ele tornou-se, assim, mais do que num jogo do rato e do gato, num diálogo de surdos: surdos à lógica e princípios do outro.
O procurador não reconhecia – não o podia fazer – qualquer sentido moral na suposta atuação criminosa do suspeito.
Este, por seu lado, não aceitava a legitimidade do Estado, logo do procurador, para avaliar e censurar o ato que, correta ou incorretamente, lhe era imputado.
Ao suspeito – dizia-o sem remorsos – era-lhe moralmente indiferente a causa da morte da vítima.
Se a morte ocorrera de uma queda involuntária, paciência.
Se a morte ocorrera em consequência do risco assumido pela opção da vítima, paciência: fazia, igualmente, parte das regras do jogo que ela conhecia.
O procurador, apesar de, por fim, lhe faltarem provas diretas do que ele acreditava ter sido um crime, não admitia, entretanto, encarar o suspeito de outra forma que não como o seu autor.
No final, contra vontade, concluiu: “As verdades processuais são frequentemente simples aproximações, elas dependem somente do que fica registado nos autos. Admite-se, portanto, a existência de erros judiciários. Aqui, porém, a verdade dos autos à minha disposição é definitivamente oposta à realidade. Para mim, você é culpado de homicídio, mas tenho de o libertar.”
E acrescentou, adiante, para se justificar ante o suspeito: “Nos interrogatórios, o magistrado age ao contrário, fundando-se numa hipótese de responsabilidade do arguido. Ele analisa o caso e, depois, decide pela acusação ou pelo arquivamento.”
A isto, o arguido respondeu, depois de um curioso, mas não absurdo, convite do procurador para, terminado o processo, se encontrarem e falarem livremente:
“Mesmo fora dos nossos papéis atuais, o senhor continuará sempre um magistrado. Conheço um que encontrou num jantar antigos camaradas revolucionários com quem militara na juventude. Eles evocaram velhas estórias. No dia seguinte, o magistrado mandou prender alguns dos que participaram nesse jantar. Eles haviam falado um pouco demais. Não foi um ato de um infiltrado. Esses camaradas sabiam que ele se tornara magistrado. Eles acreditaram, porém, numa lealdade baseada no passado comum. Enganaram-se: esse magistrado havia concluído um pacto com a instituição, que o desobrigou das lealdades passadas. É por essa razão que, em nenhuma ocasião, nós poderemos voltar a esta questão”.
A estória não termina assim, tem muito mais a dizer e o que nela se segue é, também, muito revelador do grau de compreensão/incompreensão das duas realidades: a filtrada pela lei e o direito, e a da ação e discurso político.
5. Para que a rigidez da leitura da realidade feita por alguns magistrados possa vir a ser, de alguma maneira, mais ajustada à verdade da vida é necessário um trabalho cultural e político profundo, tanto no ensino universitário do direito, como nos estágios profissionais.
É, no fundo, necessário dar-lhe a chave da compreensão política das realidades da vida, que eles têm de avaliar no plano jurídico com outra chave.
É necessário, também, que os agentes políticos percebam quais as consequências das leis que fazem e os compromissos que, por causa delas, os magistrados têm de assumir.
Tirando os casos patológicos, que também os há, as diferentes leituras das situações da vida sob investigação e a da lei que, em princípio, as contempla, traduzem, no essencial, da parte dos magistrados, uma lealdade para com os valores que legitimam a ação da instituição que abraçaram.
Daí também, o receio de muitos procuradores, quando confrontados com situações dúbias, optarem, em regra, por cumprir o que a lei literalmente prescreve.
A cresce que, em rigor, a função penal da Justiça não foi pensada para investigar, acusar e condenar agentes políticos no exercício de uma função, para a qual foram democraticamente eleitos e que exige, por vezes, decisões discricionárias.
A justiça penal e quase toda a sua doutrina foram, porém, pensadas para lidar com outro tipo de crimes e criminosos: os que, por norma, não têm nem exercem um poder institucional.
A mudança de alvo da Justiça mudou, pois, também, os termos da leitura que dela é feita por quem tem de aplicar a lei a estas novas situações.
O esbatimento dos laços hierárquicos na última versão do Estatuto do MP que, não há muito tempo, com largo apoio, a Assembleia da República aprovou, levou, entretanto, a um resultado inesperado: sem o respaldo da hierarquia, que hoje não pode formalmente intervir no decurso do inquérito, a rigidez da análise e da atuação no processo, por parte dos magistrados de base, tendeu a reforçar-se.
É por essa mesma razão que os despachos dos nossos magistrados estão hoje recheados de citações de doutrina e jurisprudência; elas não visam, em rigor, justificar a decisão, visam, sim, justificar quem a tomou.
6. À margem da discussão das reclamadas reformas legais, importa, pois, procurar, antes do mais, moldar a cultura e o discurso judiciário à realidade que têm forçosamente que analisar.
Talvez, por exemplo, que os cursos de atualização sobre a criminalidade económica e financeira devessem dar, da assunção de responsabilidades político-administrativas, uma visão mais realista e não apenas um ensinamento estrito da sua dimensão regulamentar.
No mesmo sentido – a modulação da cultura e do discurso judiciário – seria importante eliminar do léxico legal e judiciário o termo “luta contra o crime de…”
Ele é tóxico, pois confunde e desvia a magistratura do seu papel fundamental: fazer Justiça
A luta contra o crime é uma tarefa eminentemente executiva e policial – portanto, político-administrativa – e, em certo sentido, incompatível com a objetividade das funções que se exigem das autoridades judiciais e judiciárias.
Estas devem, de preferência e em contraposição à cultura policial, manter uma atitude de pura objetividade na apreciação e conclusão dos casos com que, nas diferentes fases processuais, têm de lidar.
7. A judicialização da política é, também, uma das consequências da regulação pormenorizada dos passos a dar e das formalidades a cumprir no decurso dos negócios realizados entre o Estado e os privados.
Com tal regulação pormenorizada, se dá voz e se sedimenta uma cultura de desconfiança nos agentes políticos e funcionários do Estado que têm de lidar com tais interesses, em regra distintos, quando não opostos.
Não se encarando politicamente soluções de controlo interno eficazes para os problemas que o vigente sistema político-económico necessariamente comporta, a tendência tem sido, sempre, a da opção pela hipervalorização da posterior intervenção judicial, com todas as consequências daí resultantes.
Jamais, até hoje, se introduziram verdadeiras, eficazes e responsabilizantes medidas de controlo interno que antecipem aos decisores políticos os riscos e as irregularidades das mais relevantes decisões político-administrativas com efeitos financeiros e económicos.
Por isso, só a posteriori elas são controladas, na maioria dos casos, pela Justiça penal.
A intervenção desta é, contudo, pontual e nem sempre certeira, dada a sua adquirida e fechada grelha de leitura da complexidade e obscuridade de muitos procedimentos administrativos que conduziram às decisões em crise.
Aí, apesar da ação da Justiça penal, a razão de se continuar a assistir a demasiados, evidentes e desproporcionados desvios procedimentais nas decisões político-administrativas, e a criminosos locupletamentos à custa do erário público, que acabam impunes.
8. Não é, contudo, deslegitimando publicamente o controlo que a ação da Justiça, apesar de tudo, impõe, que se contribui para a credibilização da Democracia, do Estado e dos representantes do poder político que os dirigem.
Não parece, pois, suportável por mais tempo, sem adensar um perigo real para a legitimidade do sistema democrático, o atual e constante enfrentamento entre a lógica mais distendida e sempre atualizada do discurso político, e a lógica mais hierática e estrita do discurso legal e judicial.
Por ora, o poder judicial só pode, assim, continuar, “malgré lui” a ser, exclusivamente, “la bouche de la loi”.



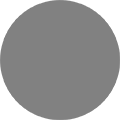 category-label-
category-label- 







